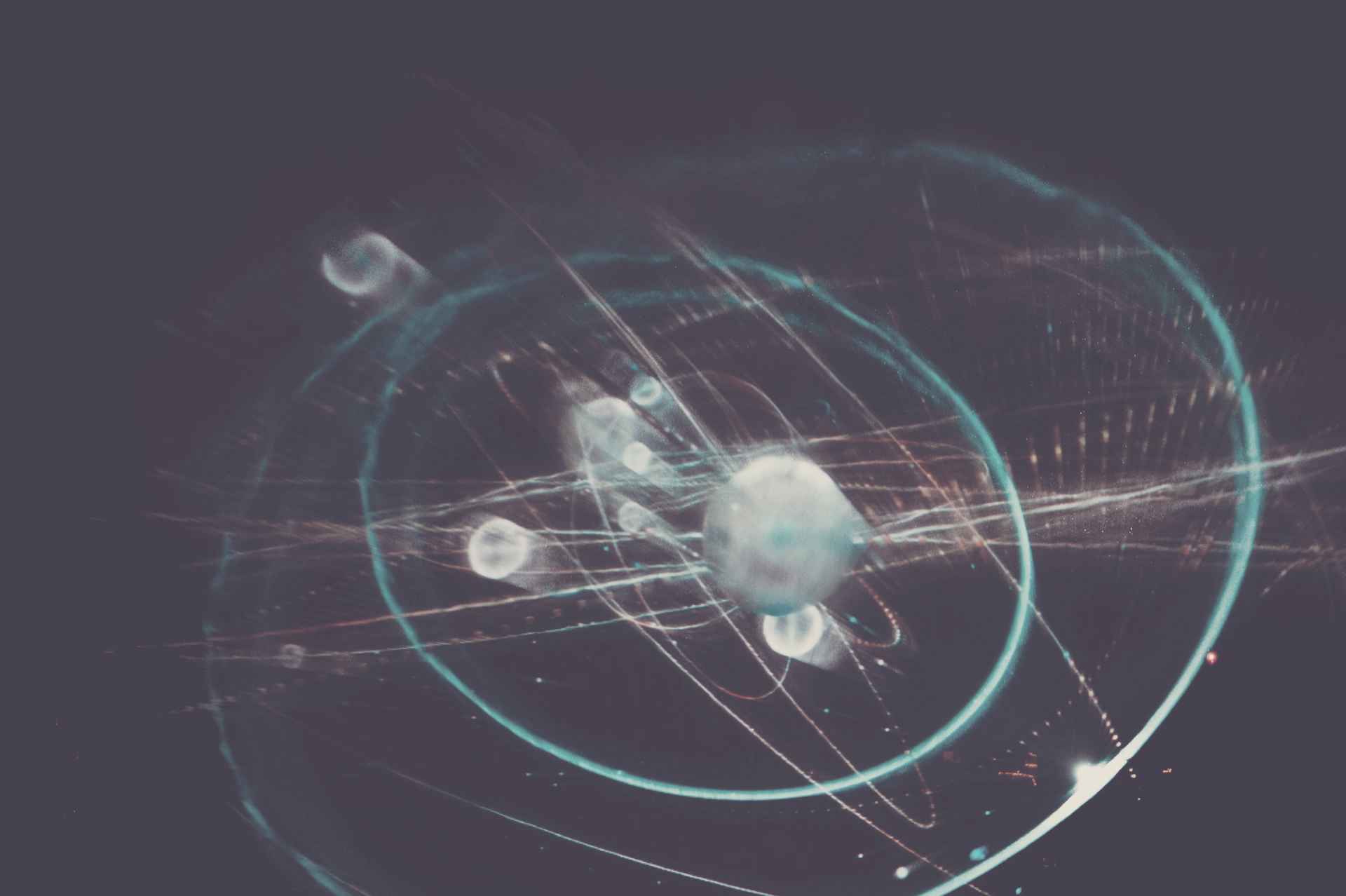Os astros e o desastre: visões modernas da natureza
O dom de ser semelhante, do qual dispomos, nada mais é que um fraco resíduo da violenta compulsão, a que estava sujeito o homem, de tornar-se semelhante e de agir segundo a lei da semelhança. E a faculdade extinta de tornar-se semelhante ia muito além do estreito universo em que hoje podemos ainda ver as semelhanças. Foi a semelhança que permitiu, há milênios, que a posição dos astros produzisse efeitos sobre a existência humana no instante do nascimento.
Walter Benjamin, “A doutrina das semelhanças”, 1933.
Se o desastre significa estar separado do astro (o ocaso que assinala o extravio quando é interrompida a relação com o acaso que vem do firmamento), ele indica também a queda sob a necessidade desastrosa. Seria o desastre a lei, a lei suprema ou extrema, o excessivo não codificável da lei: aquilo a que estamos destinados sem nos concernir?
Maurice Blanchot, A escritura do desastre, 1980.
As recentes discussões em torno do pensamento vivificante da natureza e das formas situadas da ecologia coincidem em diversos aspectos com as atuais revisões dos modernismos no Brasil. Mais precisamente, eu diria, tornam imprescindível a releitura de certas visões da natureza adensadas por modernos e por modernistas, visões segundo as quais o fenômeno “natural” foi insistentemente articulado – seja em chave opositiva, seja em linha de tensão, ou seja, ainda, em forma de modelo – com aquilo que deveria ser mais propriamente elaborado no domínio “cultural”.
Com efeito, agindo sob diferentes signos, por assim dizer, intérpretes da nossa história cultural acumularam um amplo repertório de alegorias e metáforas que situam bem o problema. Meu propósito aqui é muito modesto. Procuro apenas apontar algumas dessas ocorrências, sinalizando de passagem, mas desde já, algo que, nestes idos do século XXI, não poderia ser desconsiderado: que, para o homem nascido da lógica da civilização ocidental e seus processos de colonização, a visão da natureza talvez nunca tenha sido imediata ou autoevidente, já que a origem dessa humanidade e suas relações com o entorno não parecem repousar na autonomia de sua própria natureza, nem numa continuidade transparente e conciliatória entre a humanidade e o restante do mundo. Ao contrário, para essa humanidade, para nós, a origem e as relações com o entorno – ou ainda, a ontologia, a epistemologia e a política – baseiam-se num estranho dom, uma espécie de fundamento sem fundo: a insondável emergência da linguagem.
É a linguagem, desse modo, o medium por excelência de uma humanidade cuja natureza é inessencial, uma vez que dependente desse artifício, essa prótese; medium participante, afinal, dos encontros e das relações entre as coisas, ou seja, medium implicado na produção das semelhanças extra-sensíveis, ou imateriais, que transitam entre o visível e o vidente estabelecendo correspondências contingentes, afinidades fugazes. Em outras palavras, é apenas segundo a lei do desastre – de acordo com esse imemorial destino que rege nosso afastamento dos astros e a “queda” na técnica – que podemos produzir um encontro suplementar, irremediavelmente faltoso, com o cosmos.
E, contudo, como eu dizia, as imagens da natureza, moduladas de maneiras diversas, não deixaram de apoiar uma vertente hegemônica da crítica moderna a respeito da cultura e da nossa modernidade. Nesse sentido, o motivo do “transplante”, por exemplo, deslocado do vocabulário botânico (como as variantes “transplantação”, “implante”, “implantação” etc.), foi um dos mais produtivos. Inseparável do problema da definição do nacional – vale dizer, dos impasses da fundação abordados desde o romantismo – ele é marca de um princípio operatório que, já no século XX, atravessa uma série de estudos de matriz sociológica e antropológica. Seu campo de ação, demasiado vasto, abrange os desafios da modernização e os debates sobre a identidade brasileira, a dependência cultural e econômica, o progresso científico etc.
Um mapeamento muito sumário mostra o topos, na trilha da tradição modernista, em Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. “A tentativa de implantação da cultura europeia em extenso território, dotado de condições naturais, se não adversas, largamente estranhas a sua tradição milenar, é, nas origens da sociedade brasileira, o fato dominante e mais rico em consequências”, nos diz o autor no primeiro parágrafo do livro de 1936. Mas, três anos antes, Gilberto Freyre já se valera do motivo em Casa-grande & Senzala, ao comparar as dificuldades encontradas por africanos e por europeus no processo de “transplantação” de hábitos alimentares para o Brasil, no caso com vantagem para os africanos.
Em 1955, em A literatura no Brasil, Afrânio Coutinho, preocupado com a “evolução de nossa literatura”, enumera suas características: “exaltação da natureza”, “ausência de tradição” e “ausência de consciência técnica”; traços de uma “literatura de transplante” em que “o dilema da imitação e da originalidade polariza a consciência dos escritores”. É, sim, uma “impressão pessimista”, diante de “uma literatura pobre”. Impressão não distante da que lemos no canônico Formação da literatura brasileira, preparado por Antonio Candido na mesma época. No argumento definidor da “literatura como sistema” – a “literatura propriamente dita” –, o prefácio traz a conhecida fórmula, que não disfarça o tom: “A nossa literatura é galho secundário da portuguesa, por sua vez arbusto de segunda ordem no jardim das Musas… Os que se nutrem delas são reconhecíveis à primeira vista”: apresentam “gosto provinciano e falta do senso de proporções”. Como Coutinho, eis Candido: “Comparada às grandes, a nossa literatura é pobre e fraca. Mas é ela, não outra, que nos exprime”.
Roberto Schwarz, em textos como Cultura e política, 1964-1969, As ideias fora do lugar e Nacional por subtração também se valeu do tema. Assim como Ferreira Gullar, em seus ensaios da década de 1960. Em Vanguarda e subdesenvolvimento, ele repõe a tese da relatividade da vanguarda artística, tese que está inserida num amplíssimo debate em torno do nacionalismo e do problema da dependência. No prefácio à segunda edição, Gullar reforça o que está fora do lugar: “Outro ponto a que gostaria de me referir diz respeito ao caráter diferente que ganham as ideias europeias quando transplantadas para um meio atrasado, que pouco tem a ver com aquele em que surgiram. […] A defasagem entre os dois meios sociais determinou uma flexão das ideias e formas transplantadas, razão por que o estudo dessa flexão torna-se imprescindível para o entendimento do processo cultural dependente brasileiro”.
Desse debate participaram ainda Darcy Ribeiro, Mário Pedrosa, Alfredo Bosi e outros mais, mobilizando o mesmo motivo. Não é o caso, aqui, de seguir o mapeamento desse lugar-comum e os desdobramentos do seu campo semântico, nos quais, grosso modo, as formas da natureza emprestam ao povo, ao país ou à cultura uma organicidade que tende para o alto, de acordo com o predicativo de um idealismo arborescente. Mas, se este é um protocolo de leitura de grande pregnância, há igualmente variações muito significativas que tensionam e deslocam o problema.
Di Cavalcanti, por exemplo, traceja em 1922 uma árvore algo minguada, que serve justamente de capa para o programa da Semana de Arte Moderna; sinal, quem sabe, das lutas que o modernismo paulistano deveria empreender contra o próprio meio. Em Mário de Andrade, no final dessa década, a vitória-régia amazônica, “flor nacional”, tem orientação baixa e indomesticável, mas ao turista aprendiz mostra-se como cifra de um fenômeno intelectual, em razão das suas contradições: dentre outras características, o aroma da flor, de longe “suavíssimo”, é de perto “evasivo e dá náuseas, cheiro ruim”. Já para o “príncipe dos poetas” Guilherme de Almeida, em texto publicado nas Seleções do Reader´s Digest em 1952, a orquídea é a “flor heráldica”, sublime como é a flor-de-lis para a França: disciplinada pela técnica, ela germina confortável num aparelho do Estado, o Orquidário do Jardim Botânico de São Paulo, onde vai “alçando-se em lisonjeira linha ascendente”, como “um requinte de gosto, uma instintiva e intuitiva definição de Civilização”. Mas com Drummond, em 1945, a orquídea já havia recebido o contorno da aporia, sintetizado no poema “Áporo”: indecidível, no meio do caminho entre um inseto que cava “sem achar escape” e uma orquídea que sozinha “forma-se”, conjuga-se a ambivalência biopolítica do Ocidente: “(oh razão, mistério)”.
Raúl Antelo analisou de modo decisivo várias dessas ocorrências em “A aporia da leitura” (no exposto, sigo de perto este e outros ensaios do autor). A questão, colocada em termos bataillanos por Antelo, é “desligar a flor de sua função e mostrar que, se afirmamos que as flores são belas, não é por aquilo que elas são de fato mas porque elas parecem adequadas ao ideal”. De fato, em 1929, num conhecido verbete, Bataille afirmara: “Seria preciso, com efeito, para que os homens acadêmicos ficassem contentes, que o universo tomasse forma”; mas “o universo não se assemelha a nada”, “ele só é informe”, o que equivale a dizer que ele “é algo com uma aranha ou um escarro”. Na esteira dessa crítica acéfala – que afirma não a semelhança a algo (ao modelo, objeto primeiro ou único), senão, simplesmente, a semelhança mesma, o ser semelhante –, a orquídea, diz Antelo, “não se forma, a orquídea é”; todavia “capta-se, é dita pela linguagem, recebe significação a partir da cultura”. Vemos desse modo que a literatura nacional, “tantas vezes comparada a uma árvore”, surge na verdade “como uma investigação tautológica acerca do vazio”.
Aqui poderia ser alinhada a impugnação feita por Haroldo de Campos, em O sequestro do barroco…, à ideia de formação de Antonio Candido e, por extensão, ao “pressuposto evolutivo-biológico daquela historiografia tradicional que vê reproduzir-se na literatura um processo de floração gradativa, de crescimento orgânico”. E poderia ser retomada, muito antes, a tese de Araripe Júnior, que já no século XIX destacara a obnubilação brasílica como uma força capaz de inflamar a imaginação, atenuando as “camadas de hábitos que subordinavam o homem” e abrindo “uma fenda na estratificação da natureza civilizada”: uma manifestação não do determinismo, portanto, mas da contingência, do acaso que agencia semelhanças (entre sujeito e mundo, através da linguagem) produtoras de diferenças.
Ao menos nesse aspecto, o tropicalismo – e antes, claro, a antropofagia –, sendo pouco filial, teria a mesma consigna, a obnubilação. E não à toa, no início da década de 1970, Silviano Santiago destacaria no entre-lugar latino-americano o trabalho sobre o discurso e proporia, ademais, a recusa da prática de investigação das fontes e das influências, essa “curiosa verdade” que “prega o amor da genealogia” e o reconhecimento de “uma dívida contraída” (muito embora, situada entre a hermenêutica e o culturalismo, essa desobediência discursiva continue adotando como referência ou marco a mesma Europa, como recentemente apontou Bairon Vélez Escallón, de maneira aguda, num texto intitulado “Entre-lugar: Darkside”).
Diante desse quadro, por certo insuficiente, proponho uma síntese, que pecará também pelo esquematismo. Há, por um lado, variadas leituras segundo as quais a cultura civilizada, advinda dos processos de colonização, pode ser compreendida nos termos de um vitalismo arborescente, das raízes à floração. Essa interpretação lhe confere um padrão organicista evolutivo, algo linear, estando assim bem enraizada no solo de uma história também ela já naturalizada pela lógica positiva do progresso. Além disso, na base desse protocolo interpretativo, é categórica a legitimidade atribuída à gênese, aos antecedentes responsáveis pela geração da cultura em questão. A partir dessa filiação reconhecida e passada adiante ao modo de uma propriedade genética, aos troncos, galhos e ramos descendentes caberia decidir: continuidade, ruptura, depuração, ou qualquer outro recurso adequado ao seu desenvolvimento autônomo.
Por outro lado, e com inúmeras modulações mais, haveria leituras não contrárias, simplesmente, a um motivo da natureza específico (como o “transplante”), mas sim críticas do pressuposto organicista e ascendente que as leituras “genéticas” tenderiam a cristalizar, e em cujo horizonte parece estar a manutenção de uma lógica tributária da presença positiva do fundamento e da identidade, que são impostos teleologicamente. Tais leituras, por sua vez, acentuam o fundamento ausente sobre o qual as nossas visões da natureza se apóiam, uma vez que as correspondências e afinidades que julgamos ver são projetadas a partir de fenômenos estéticos que, não carregando em si mesmos a autoevidência do seu significado ou valor, apenas se mostram por meio de uma cadeia de sentidos vicários, que é sustentada pela linguagem. Todo juízo, toda decisão sobre o sentido, arriscando-se nessa origem disruptiva, vem a ser tensionada pela dissensão.
Eis, em suma, o desastre a que estamos destinados, essa lei ou doutrina que sem nos concernir nos assemelha. Estranha dádiva que, diria Blanchot, está “relacionada com o que há de mais antigo, com o que viria do fundo dos tempos sem jamais ter sido dado”. Situar a cada vez, no fluxo das coisas, dos corpos, dos astros, a emergência dessas semelhanças imateriais é submeter-se a uma exigência última. A essa exigência Benjamin deu o nome de “momento crítico”.
Referências
ALMEIDA, Guilherme de. Orquídea, flor de altura. Seleções do Reader´s Digest, Rio de Janeiro, vol. 22, n. 126, jul. 1952, contracapa.
ANDRADE, Carlos Drummond de. A rosa do povo. 21 ed. São Paulo: Record, 2000.
ANDRADE, Mário de. O turista aprendiz. Brasília, DF: Iphan, 2015.
ANTELO, Raúl. A aporia da leitura. Ipotesi: Revista de Estudos Literários, Juiz de Fora, v. 7, n.1, p. 31-45, 2003. Disponível em: http://www.ufjf.br/revistaipotesi/files/2011/05/4-A-aporia-da-leitura.pdf.
______. O Museu é um espelho ustório. Remate de Males, v. 39, n. 1, p. 4-27, jul. 2019. Disponível em: https://doi.org/10.20396/remate.v39i1.8654438.
BATAILLE, Georges. Informe. Documents, année 1, n. 7, dec. 1929, p. 382. Disponível em: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k32951f.
BENJAMIN, Walter. A doutrina das semelhanças. Trad. Sergio Paulo Rouanet. In: Obras escolhidas. Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1996.
BLANCHOT, Maurice. La escritura del desastre. Trad. Pierre de Place. Caracas: Monte Avila Editores, 1990.
CAMPOS, Haroldo de. O sequestro do barroco na Formação da Literatura Brasileira: o caso Gregório de Matos. São Paulo: Iluminuras, 2011.
CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira. Momentos decisivos. 6 ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 2000.
COUTINHO, Afrânio. A literatura no Brasil. 3 ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1986.
FREYRE, Gilberto. Casa-grande & Senzala. 48 ed. São Paulo: Global, 2003.
GULLAR, Ferreira. Vanguarda e subdesenvolvimento. In: Cultura posta em questão, Vanguarda e subdesenvolvimento. 2 ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2006.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
JUNIOR, Araripe. Literatura brasileira. In: Obra crítica de Araripe Junior. Volume I (1868-1887). Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura; Casa de Rui Barbosa, 1958.
SANTIAGO, Silviano. O entre-lugar do discurso latino-americano. In: Uma literatura nos trópicos. São Paulo: Perspectiva, 1978.