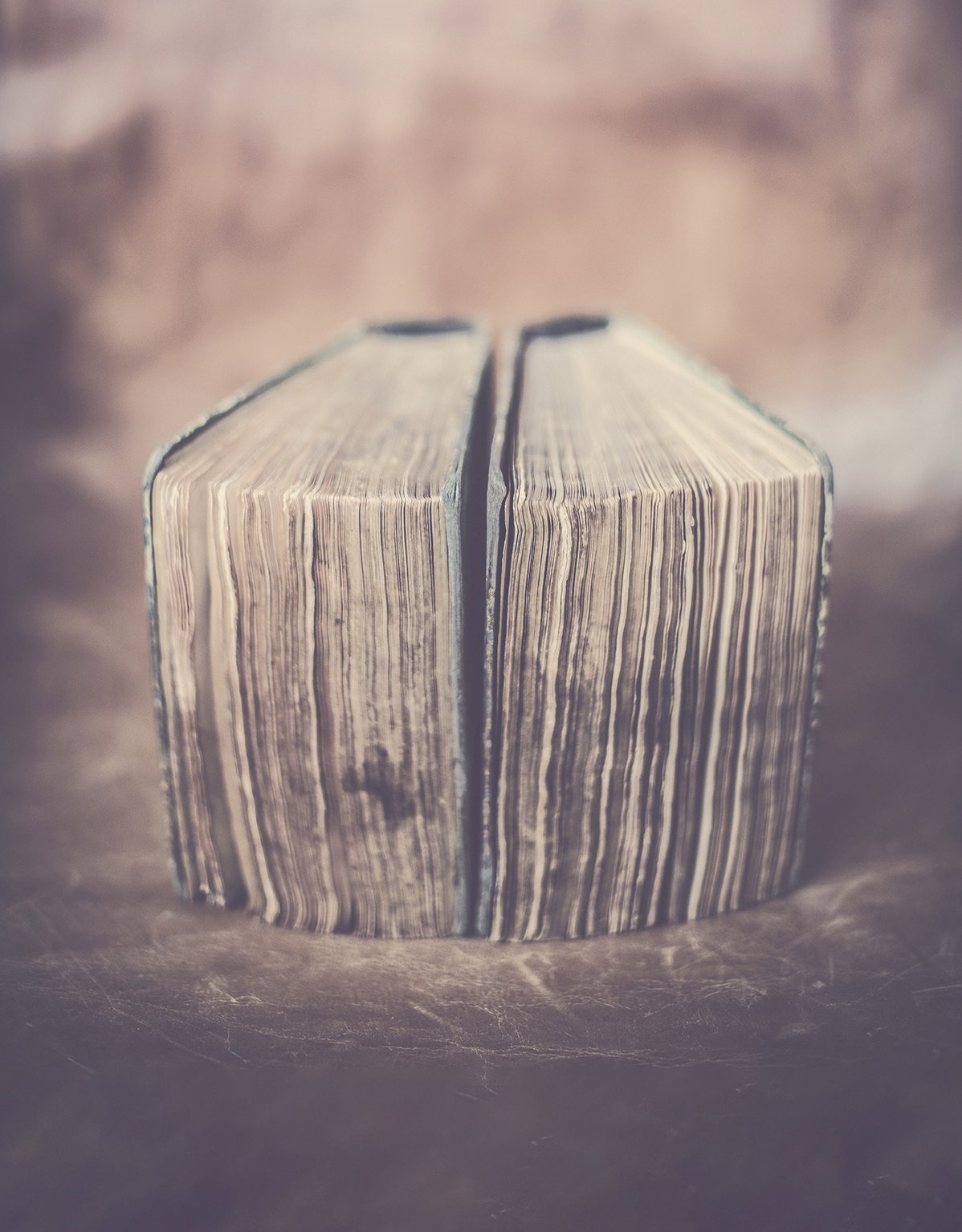Marx e Engels e as “duas culturas” – uma nota introdutória
Meio século depois da provocativa conferência de Snow, há fortes indicadores de que essa fratura ainda é constatável – não são poucos os exemplos verificáveis no ocaso do século XX: veja-se, da parte dos cientistas sociais, a ignorância sobre o estado das artes das outras ciências (como se infere de Giddens e Turner, eds., 1987), com essa ignorância derivando posteriormente, no limite, nas “imposturas intelectuais” de filósofos pós-modernos (como, deflagrando mais polêmicas, denunciaram os físicos, um norte-americano e outro belga, aliás também filósofo, Sokal e Bricmont, 1999). Por outra parte, na entrada do século XXI, um biólogo, midiático professor das universidades de Berkeley e Oxford, defendeu o ateísmo científico (Dawkins, 2007) reiterando, apenas e em registro anacrônico, a crítica da religião… conforme a Ilustração do século XVIII! [2]
Nos últimos sessenta anos, também não é difícil sinalizar – apesar de alguns ponderáveis contra-exemplos, como o oferecido pelo italiano L. Geymonat e seus colaboradores (Geymonat, 1976-1977) e pelo ensaísmo do norte-americano S. J. Gould[3] – como se mantém, em estudos sumamente importantes de história das ciências que têm por objeto a natureza, a quase ausência à remissão às suas relações com as ciências sociais (cf. esp., na ambiciosa obra dirigida por Taton, o t. III/vol. 2, dedicado à “ciência contemporânea”, editado em 1964 e várias vezes reeditado, ou o balanço coligido por Doel e Söderqvist, 2006). Simetricamente, quando se examinam relevantes obras centradas no pensamento social do século XX – como o dicionário dado a público em 1993 por Outhwaite e Bottomore (ed. bras., 1996) –, verifica-se que a referência ao universo das ciências naturais é de fato adjetiva.
É bem verdade que, desde os anos 1930, autores vinculados à tradição marxista desenvolveram na Inglaterra uma historiografia da ciência que se quis isenta das marcas das “duas culturas” pontuadas por Snow – pense-se nos trabalhos de Haldane e Bernal voltados para a história do pensamento científico –; mas deles, bem como de seus méritos e limites, não podemos tratar nesta oportunidade [4].
Não nos alonguemos nestas considerações preliminares. Nos marcos deste breve artigo, elas nos bastam para indicar que a superação da fratura entre as “duas culturas” parece ser, ainda hoje, mais um projeto que um processo – malgrado os esforços despendidos no sentido de ultrapassá-la e da reiterada e generalizada invocação da urgência de levar a cabo entre as distintas ciências uma interlocução multi/inter ou transdisciplinar. E tais considerações são no mínimo sugestivas de que a carência de uma viva interação entre o acervo das ciências sociais e o das ciências naturais pesa negativamente no desenvolvimento da massa crítica que permite à sociedade conhecer e reconhecer-se na sua necessária relação com a natureza de que depende (e de que também é parte). Talvez, aqui, caiba lembrar en passant algo que com frequência fica na sombra: se a relação metabólica entre sociedade e natureza afeta a ambas, a existência da primeira depende da existência da segunda – mas a recíproca não é verdadeira.
A divisão social do trabalho
É claro que a responsabilidade pela persistência do divórcio entre as “duas culturas” não tem raízes apenas em causas de caráter subjetivo e, menos ainda, em motivações só e puramente pessoais dos seus sujeitos. Sob uma perspectiva histórico-social, um fenômeno assim tão resistente não se explica nem se compreende pela vontade singular de cientistas dos diferentes campos do conhecimento. Nem pode ser debitado, como quer um senso comum paradoxalmente incorporado por muitos especialistas, à crescente e indiscutível diferenciação e complexidade das ciências e técnicas desenvolvidas no mundo contemporâneo [5]. A nosso juízo, a explicação e a compreensão desse fenômeno supõem o trato da moderna divisão social (com suas implicações técnicas) do trabalho, levada a seus extremos na sociedade contemporânea.
O estudo da divisão social do trabalho sob o modo de produção capitalista encontrou na Economia Política clássica uma cuidadosa atenção, notadamente por parte de A. Smith, que abriu com ele o seu célebre A riqueza das nações (1776). Depois, na sua crítica da Economia Política, e na teoria social que fundou com a valiosa contribuição de Engels, Marx conferiu à divisão social do trabalho, já a partir de 1844, extenso e profundo tratamento, que teve no livro I d’O capital algumas formulações seminais (cf. Marx, 2013, cap. 12), com a sua análise sob as condições específicas da produção material capitalista [6]. E, no conjunto da obra marxiana (cf. esp. Marx-Engels, 2007, e Marx, 2011 e 2015), a divisão social do trabalho – que precede largamente o modo de produção capitalista e, neste, comparece como uma das suas condições necessárias – é tomada desde uma perspectiva abrangente, apreendendo os seus efeitos e impactos contraditórios para além da produção material e envolvendo as esferas da produção de ideias (inclusive a produção científica).
Evidentemente, não cabe aqui mais que uma rápida alusão às pertinentes reflexões de Marx. Sem identificar ou reduzir a divisão social do trabalho às suas dimensões técnicas (estas sobretudo necessárias e decorrentes das exigências dos objetos com que se defrontam os sujeitos do trabalho), ele demonstra que a divisão social do trabalho, no modo de produção capitalista, ademais de suas funções e implicações econômicas, retira dos trabalhadores – seja os da produção diretamente material ou não – o controle do processo de trabalho e da sua organização, bem como da propriedade do que é produzido (bens e ideias). A produção (material e ideal), o seu processo, a sua organização e os seus produtos – convertidos em mercadorias –, escapam ao controle dos trabalhadores, transformam-se em objetos alheios a estes (seus reais produtores), adquirem diante deles uma autonomia efetiva e passam a constituir a base de um peculiar fetichismo [7]. Tanto o processo de trabalho e sua organização quanto os seus produtos e a sua significação social apresentam-se aos trabalhadores como algo alheio, dado, que escapa à sua atividade concreta, algo que não podem controlar. Marx dirá que, assim, os trabalhadores tornam-se alienados quer da atividade que exerceram, quer dos produtos que dela resultaram – são criadores, mas as suas criaturas fogem ao seu controle e passam a dominá-los. Este processo alienado e alienante faz do trabalho assalariado (insista-se: Marx está tratando do trabalho nas condições do modo de produção capitalista, “trabalho livre”, isento de coerção extra-econômica, regulado por contrato e remunerado mediante salário) uma fonte de padecimento – físico e psíquico – para os trabalhadores. Os sofrimentos do trabalhador inserido diretamente no processo de produção conhecem-se há muito – não por acaso, há fartíssima documentação pertinente no âmbito da chamada “patologia do trabalho” e, mais recentemente, também da “psicopatologia do trabalho” [8].
Mas é de observar que o trato marxiano dos efeitos deletérios da divisão social do trabalho não cuidou apenas do seu impacto material (físico/fisiológico) sobre os trabalhadores. A alienação do trabalhador atinge o seu mundo espiritual: a divisão social do trabalho limita substantivamente o seu desenvolvimento humano – resulta em indivíduos unidimensional e unilateralmente (de)formados, produz o especialista ignorante e idiota; ela “faz do homem um ser abstrato, uma máquina-instrumento etc., reduzindo-o a um monstro físico e intelectual” (Marx, 2015, p. 214). A divisão social do trabalho, determinando para a massa dos trabalhadores (a despeito da sua possível mobilidade ocupacional) uma longa fixação em uma atividade particular, determina igualmente a sua pobreza espiritual [9]. E isto não vale apenas para os trabalhadores inseridos diretamente na produção material – afeta também os trabalhadores que se inserem no mundo das ideias e da cultura.
A emancipação dos trabalhadores, segundo a concepção de Marx, haveria de realizar a supressão da divisão social do trabalho – que, necessariamente, implicaria também a supressão da propriedade privada dos meios fundamentais de produção, que é o seu correlato histórico. Trata-se, como é notório, da projeção revolucionária de Marx acerca da sociedade emancipada, liberada da opressão, exploração e alienação; a possibilidade histórica desta projeção não pode ser objeto de debate nesta oportunidade. Contudo, o que, aqui, deve ficar bem claro é que esta projeção não supõe, com a supressão da divisão social do trabalho, a supressão ou a minimização da preparação específica para o exercício de misteres especializados (como a pesquisa científica, entre outros): supõe que, na sociedade emancipada, os indivíduos terão garantidas as condições objetivas (reprodução física assegurada, tempos livres, suficientes e acessíveis instituições formativas) para se qualificarem continuamente para diferentes atividades que escolherão sem constrangimentos e para transitar autonomamente de umas às outras (cf. Marx-Engels, 2007, pp. 37-38). Trata-se da projeção marx-engelsiana daquela sociedade constituída “por uma associação em que o livre desenvolvimento de cada um é a condição para o livre desenvolvimento de todos” (Marx-Engels, 1998, p. 31) – sociedade de que ainda não tivemos nenhuma prova ou realização histórica.
Mas deixemos a projeção marx-engelsiana e nos voltemos, também muito brevemente, para um desdobramento da análise de Marx que se refere ao trabalho assalariado, típico da ordem capitalista, que deve nos interessar.
Desde as suas primeiras abordagens do modo de produção capitalista, Marx e Engels apreenderam a tendência do capital a submeter ao assalariamento os sujeitos profissionais desprovidos de meios de produção, inclusive aqueles que se ocupam das ciências [10]. Comprova-se hoje que é característica incontornável do capitalismo desenvolvido e maduro o assalariamento massivo desses profissionais, mesmo que a imensa maioria deles, efetivamente submetidos ao regime salarial em instituições privadas e/ou públicas, não se reconheçam e não se auto-representem como trabalhadores assalariados, antes ainda atribuindo-se a condição de “liberais” [11].
Decerto que a massificação do assalariamento dos cientistas foi acentuada, nos países capitalistas centrais, a partir de meados do século XX. No caso dos cientistas sociais, até a Segunda Guerra Mundial vinculados especialmente às instituições universitárias, o pós-1945 abriu-lhes o mercado de trabalho extra-acadêmico – empregaram-se junto a um largo leque de empresas e a aparatos públicos, nos dois âmbitos inserindo-se em estruturas organizacionais crescentemente modeladas por padrões mercantis e negociais (Mills, 1969, Cuin e Gresle, 1994). Quanto aos cientistas voltados ao estudo da natureza, destacadamente os operadores das “ciências duras”, a sua condição assalariada, constatável já desde os fins do século XIX, registrou um notável alargamento durante e após a Segunda Guerra Mundial, com a plena integração da chamada big science no que ficou conhecido depois como o “complexo industrial-militar” (a expressão foi usada, ao que parece pela primeira vez em 1960, pelo presidente norte-americano D. Eisenhower – cf. Perlo, 1969, p. 12). A incorporação dessas ciências para além dos espaços universitários deu-se sobretudo no marco da criação de centros de investigação empresariais e da emergência de políticas de pesquisa – organizadas de uma forma que acabou por rebater na (e mesmo modelar a) investigação acadêmica – para as quais a experiência do Projeto Manhattan foi decisiva, mesmo se se consideram as suas ulteriores transformações (Galison e Hevly, eds., 1992 e Hallonsten, 2016). Nas décadas seguintes à Segunda Guerra Mundial, essa organização empresarial da pesquisa foi gradualmente estendendo-se e incidindo também sobre as ciências sociais acadêmicas [12].
Muito esquematicamente, constituiu-se uma modelagem da pesquisa com, entre outros, os seguintes traços característicos: a) a formação contínua de quadros qualificados e a sua inserção em aparatos organizacionais crescentemente hierarquizados, segmentados e burocratizados; b) plantéis de pesquisadores dos quais se exige alta produtividade [13] e, em geral, dedicação exclusiva e intensiva; c) variados canais de comunicação de uso sistemático e interagente entre plantéis da mesma área científica.
Mais decisivo, porém, é que a tal formatação subjaz, praticamente sempre e compulsoriamente, um projeto global-estratégico das finalidades científicas e extra-científicas (econômicas, sociais e políticas) das pesquisas em andamento ou a implementar – e é precisamente a este projeto que a imensa maioria dos pesquisadores não tem acesso, reservado que está a um círculo restrito de gestores (do qual participa um pequeno número de cientistas, que frequentemente combinam as suas atividades de pesquisa a interesses empresariais e/ou estatais). Na realidade, uns poucos gestores (mesmo que cientistas) decidem os fins e as matérias sobre as quais a massa dos pesquisadores operará como executantes [14]. Em sendo assim, não é preciso nenhum esforço analítico especial para verificar que essa formatação dos projetos de desenvolvimento científico funciona, no que toca ao horizonte cultural dos cientistas, como um potente e expressivo vetor de limitação dos seus conhecimentos.
Inserida na malha da divisão social do trabalho configurada deste modo, e já trazendo na sua formação básica elementos que favorecem visões bem estreitadas da herança cultural [15], a intelectualidade alocada ao exercício da ciência – seja daquela voltada para a análise social, seja daquela dedicada ao estudo da natureza – vê-se fortemente constrangida a conviver com a fratura entre as “duas culturas” e a reproduzi-la. Embora se constatem preocupações e esforços no sentido de superar esta fratura, as limitações que a divisão social do trabalho impõe aos cientistas (e não só a eles, mas também aos filósofos, conforme notou Lukács, 1979) são de tal ponderação que empenhos individuais – e mesmo uns pouco coletivos – revelam-se quase sempre de eficácia muito reduzida.
Ainda que sejam de saudar tais empenhos, há que salientar que serão quase sempre baldados enquanto não forem eliminadas as suas condicionantes econômico-políticas. E esta eliminação não depende de esforços apenas científicos e dos cientistas, ainda que os suponha – depende de transformações econômico-sociais que envolvem relações políticas (de poder e de hegemonia) que transcendem largamente a força de categorias sócio-profissionais e demandam o movimento das classes sociais.
Marx e Engels: a unidade sociedade/natureza e a especificidade da vida social
Mais adiante, relacionaremos – brevemente, como cabe num artigo como este que o leitor tem à mão – alguns materiais de Marx e Engels conectados com as ciências da natureza. Antes, porém, cremos serem úteis uns poucos parágrafos para melhor contextualizar e balizar a relação que ambos estabeleceram com tais ciências.
À partida, cumpre salientar que, ao longo das quatro décadas (iniciadas nos anos 1840) da sua fraterna colaboração e da elaboração de suas próprias obras, Marx (1818-1883) e Engels (1820-1895) não foram afetados – como o seriam importantes cientistas sociais – pela fratura que se expressa na coexistência das “duas culturas” até porque, em parte do período em que produziram suas principais obras, tal fratura todavia não se configurara na sua plena inteireza e o intensivo desenvolvimento da divisão social do trabalho ainda não se operara a ponto de vulnerabilizá-los. Mas tanto Marx quanto Engels trabalharam sempre considerando que o desenvolvimento da divisão social do trabalho que lhes era contemporâneo aprisionava os teóricos e pensadores do seu tempo, decorrendo dele implicações que ultrapassavam a consciência e a ação individual dos cientistas e não favoreciam as suas visões de mundo, antes as amesquinhavam objetivamente – são inúmeros os passos encontráveis em suas obras (e aqui nos dispensamos de remeter a eles) que atestam este posicionamento. Por outra parte, é certo que, entre os dois, houve, a partir de meados dos anos 1850, uma tácita “divisão de tarefas”, como registraram muitos de seus biógrafos [16] – com Marx voltando-se mais para a crítica da Economia Política e Engels acompanhando com rigor a evolução e o progresso das ciências da natureza; esta “divisão de tarefas”, porém, nada teve a ver com a divisão social do trabalho nem implicou, para ambos, num corte entre “duas culturas”.
Até o fim de suas vidas, os dois não se tornaram “especialistas” – Marx prosseguiu estudando a produção de teóricos e cientistas que tinham por objeto a natureza e Engels permaneceu atento à elaboração de cientistas que cuidavam da economia, da história e da política (e ambos nunca descuraram do desenvolvimento da arte e da literatura – cf., p. ex., Marx e Engels, 2010). Mas, essencialmente, foi o fundamento das concepções teórico–metodológicas de ambos que impediu que eles se dividissem entre as “duas culturas”. É este fundamento que assegurou a Marx e a Engels conceber a relação sociedade/natureza sem perder “de vista nem a historicidade da natureza nem a naturalidade da história” (Quaini, 1979, p. 43). Veja-se como este fundamento aparece, já na sua juventude, n’A ideologia alemã [17]: “Conhecemos uma única ciência, a ciência da história. A história pode ser examinada de dois lados, dividida em história da natureza e história dos homens. Os dois lados não podem, no entanto, ser separados; enquanto existirem homens, história da natureza e história dos homens se condicionarão reciprocamente” (Marx-Engels, 2007, pp. 86-87 [itálicos meus/JPN]). A passagem deixa claríssimo que Marx e Engels distinguem a história da sociedade da história da natureza – porém, simultaneamente, apontando o seu mútuo condicionamento, não as separam ou as divorciam.
Este núcleo juvenil e original do seu pensamento manter-se-á como tal ao longo da vida e da obra de ambos: para os dois, a história da natureza, modificada pela ação humana e esta modificada também sob condicionantes postos por aquela, constituem uma unidade, mas não uma identidade. Em ambos, herdeiros críticos da dialética de Hegel, a unidade é sempre concebida como unidade do diverso – por isto, a unidade sociedade/natureza, que se reflete na unidade das suas histórias, não pode significar a sua equalização. Há algo de fundamental que cancela a possibilidade de concebê-las numa relação identitária: o caráter teleológico que satura a dinâmica da sociedade e de que carece a natureza (inorgânica e orgânica). Os processos constitutivos da vida social específica dos homens são sempre intencionais (mesmo que as suas resultantes não concretizem necessariamente a intencionalidade dos sujeitos sociais, individuais ou coletivos); os processos ocorrentes na natureza são sempre não-intencionais (só se apresentam como tais se apreendidos de forma não estritamente racional, sob óticas religiosas, místicas ou míticas). A teleologia, atributo exclusivamente social, funda-se, para Marx e Engels, na atividade peculiar que é o trabalho (cf. Marx, 2013, pp. 255-261 e Engels, 2020, pp. 337-351), condição sempre necessária para a produção e a reprodução da sociedade [18].
Engels tematiza a questão aqui tangenciada com a sua clareza habitual. Afirma ele que “a história do desenvolvimento da sociedade difere substancialmente […] da história da natureza. Nesta – se excluímos a reação exercida […] pelos homens sobre a natureza – o que existe são fatores inconscientes e cegos que atuam uns sobre os outros […]. De tudo que acontece na natureza – tanto os inúmeros fenômenos aparentemente fortuitos que afloram à superfície como os resultados finais pelos quais se comprova que esses acasos aparentes são regidos por leis –, nada ocorre em função de objetivos conscientes e voluntários. Em troca, na história da sociedade, os agentes são todos homens dotados de consciência, que atuam sob o impulso da reflexão ou da paixão, buscando determinados fins; aqui nada se produz sem intenção consciente, sem um fim desejado” (Engels, in Marx-Engels, 1963, pp. 197-198 [itálicos meus/JPN]).
Precisamente esta consciência da especificidade da vida social (ou, para sermos mais rigorosos, da especificidade do ser social) permitiu a Marx e a Engels recusar o procedimento enganoso de transladar para a sociedade descobertas e assertivas referidas às realidades pertinentes ao mundo natural (ao ser inorgânico e orgânico) – procedimento que deriva na naturalização da dinâmica social. A esta naturalização, decerto conexa ao notável desenvolvimento das ciências naturais no último quartel do século XIX, sucumbiram vários dos primeiros representantes da sociologia conservadora, de que H. Spencer foi uma expressão destacada (cf. K. Bock, in Bottomore e Nisbet, orgs,. 1980). De acordo com muitos estudiosos, marco inaugural daquele desenvolvimento foi a publicação (em 1859, mesmo ano em que veio à luz a Contribuição à crítica da Economia Política, de Marx) d’A origem das espécies, de C. Darwin.
Sabe-se que Marx apreciou e valorizou a obra de Darwin, creditando-lhe, entre outros méritos, o de ter ferido de morte a interpretação idealista e teleológica da natureza (cf. Fedosseiev, dir., 1983, p. 373) – e Marx manteve em face de Darwin uma relação de grande respeito [19]. Entretanto, nunca aceitou a tendência, latente no sábio inglês, para “estabelecer uma analogia simplista entre as leis que operam no mundo animal e vegetal e a luta da concorrência, ‘a guerra de todos contra todos’ que se desenrolava diante dos seus olhos na sociedade capitalista da sua época” (idem, ibidem). Essa tendência, Marx a considerava uma debilidade e um equívoco teóricos que, independentemente da vontade de Darwin, embasaria o grosseiro “darwinismo social” de ideólogos que exploraram de modo vulgar o legado do grande naturalista. Daí que Marx nunca identificasse as ideias de Darwin às suas e jamais tenha cogitado de unificá-las (Cottret, 2010, p. 306).
Também Engels, cuja admiração pela obra de Darwin é bastante conhecida, expressou de forma cristalina as suas reservas a traços significativos das concepções do cientista – veja-se a sua seguinte anotação: “Toda a teoria darwiniana da luta pela sobrevivência é simplesmente a transposição para a natureza animada da teoria hobbesiana do bellum omnium contra omnes [guerra de todos contra todos] e da teoria burguesa da concorrência econômica, bem como da teoria populacional de Malthus” (Engels, 2020, pp. 332-333).
Voltemos ainda a Marx. Coerentemente, ao contrário do que apregoam críticos pós-modernos do que chamam de “paradigma naturalista-cientificista”, positivista, assumido por sociólogos da transição do século XIX ao século XX, Marx nunca se associou a qualquer determinismo evolucionista [20]. Para sinalizar a diferença abissal entre as concepções de Marx e as daqueles sociólogos é suficiente considerar, por exemplo, como eles tratam uma questão fulcral, a questão da legalidade da vida social – isto é, a questão das leis que regem a dinâmica social [21]. Domina o pensamento dos sociólogos da época a tese de que as leis sociais são homólogas às leis das ciências naturais. Mesmo um pesquisador sério e honrado como o já citado E. Durkheim não hesitava em sustentar que as leis sociais são fixas e imutáveis, que “os fenômenos físicos e sociais são fatos como os outros, submetidos a leis que a vontade humana não pode interromper à sua vontade e que, por consequência, as revoluções, no sentido próprio do termo, são coisas tão impossíveis como os milagres” (Durkheim, 1975, p. 485; sobre estas posições do sociólogo francês, cf. Löwy, 1994, p. 26 e ss.).
Ora, Marx situa-se expressamente nas antípodas dessas ideias. De uma parte, ele recusa, no estudo da sociedade, todo e qualquer caráter supra-histórico para “lei” – diz, sem deixar margem para dúvidas, aludindo à teoria da população de Malthus: “[…] Cada modo de produção particular na história tem suas leis de população particulares, historicamente válidas. Uma lei abstrata de população só é válida para as plantas e os animais e, ainda assim, apenas enquanto o ser humano não interfere historicamente nesses domínios” (Marx, 2013, p. 707 [itálicos meus – JPN]). De outra, na teoria marxiana, as determinações econômicas objetivas e sistêmicas que a dinâmica do modo de produção capitalista instaura na vida social são reconhecidas como leis e as suas implicações são tomadas como necessárias – porém, as leis que Marx extrai da sua análise do modo de produção capitalista não são leis supra ou a-históricas nem naturais no sentido de se deverem à natureza: são tendências estritamente sociais e objetivas que implicam contra-tendências igualmente objetivas e operantes e que têm curso e validade em condições históricas muito determinadas [22]. E, por seu turno, Engels expressa, nalgumas formulações esparsas, observações plenas de consequências para a relação entre leis referidas à natureza e leis referidas à sociedade – p. ex.: “Também as leis naturais eternas se transformam cada vez mais em leis históricas” (Engels, 2020, p. 145).
E mesmo numa pequena nota introdutória à relação de Marx e Engels com as ciências da natureza, como a que aqui formulamos, são oportunas três breves observações – uma delas de extrema importância. Comecemos por esta, que diz respeito à fundamentação filosófica das concepções teórico–metodológicas de ambos, a que aludimos acima. Talvez neste ponto resida uma grande dificuldade para os cientistas (e não só para eles) que, nos dias correntes, se aproximam de Marx e de Engels: é que, para compreender os seus textos, é necessário um conhecimento mínimo dos seus supostos e suportes filosóficos, em especial da dialética que eles herdaram de Hegel, dela expurgando o seu viés especulativo. Uma formação filosófica básica é indispensável para a compreensão dos trabalhos marx-engelsianos; sem ela, a leitura de Marx e Engels perde o essencial do seu conteúdo. Tal formação exige estudos que, em geral, requerem uma particular dedicação – não foi por acaso que o próprio Marx advertiu aos franceses, em 1872, que “não existe uma estrada real para a ciência e somente aqueles que não temem a fadiga de galgar suas trilhas escarpadas têm chance de atingir seus cumes luminosos” (Marx, 2013, p. 93) [23].
Outra observação relaciona-se à cautela com que Marx e Engels tratavam os procedimentos utilizados e as descobertas realizadas pelos cientistas que faziam avançar a física, a química e a biologia. Cônscios do caráter relativo do conhecimento, mas sem fazer concessão a quaisquer teorias relativistas do conhecimento, não cultivaram nunca o cientificismo – sua valorização dos saberes científicos não os conduziu a uma visão absolutista e/ou acrítica dos ganhos da ciência do seu tempo. E uma terceira diz respeito às suas motivações, verificáveis objetivamente: não se moviam em busca das ciências para ilustrar-se gratuitamente, à moda dos diletantes – faziam-no para atender a demandas que as suas próprias pesquisas lhes punham como imperativas.
Enfim, cabe pontuar que Marx e Engels, companheiros por quatro décadas na fundação de uma nova e revolucionária teoria social e camaradas nas lutas políticas, não tinham a mesma estatura intelectual: Marx foi um gênio, e seu companheiro um talentoso pensador que, embora dispondo de luz própria, reconhecia-se como um segundo violino [24].
Marx e Engels: de matemática e de ciências sociais e naturais
Ainda neste século XXI, o fato de Marx (e o mesmo vale para Engels) ser um estranho nos nichos estabelecidos pela divisão social do trabalho imperante cria curiosos embaraços à “classificação” da sua obra por grande parte dos cientistas sociais – prova-o a sua repartição pelos vários departamentos universitários nos quais se estuda (quando se estuda…) a sua produção. Ora temos o Marx filósofo, ora o historiador, o sociólogo, o economista… [25] – em suma, quando ele não se vê caracterizado como o doutor terrorista vermelho (como à época em que exércitos defensores da boa sociedade burguesa chacinaram a Comuna de Paris), a sua obra é devidamente esquartejada conforme os saberes institucionalizados na academia. Em qualquer desses “recortes”, o que sobressai é a incompreensão do caráter peculiar, original e unitário da obra marxiana – a determinação do que ela é essencialmente: a teoria social que dá conta da gênese, do desenvolvimento, da consolidação e das condições de crise da ordem do capital, teoria elaborada a partir da perspectiva histórico-revolucionária própria do proletariado.
E mesmo entre os cientistas sociais que se ocupam seriamente de Marx, raros são os que se atêm àquilo que, na obra marxiana, vai além das fronteiras das ciências sociais. Esta é uma das razões por que cientistas sociais estudiosos de Marx quase sempre deixam na sombra as suas importantes pesquisas no campo da matemática, já bastante conhecidas desde os anos 1970 (Marx, 1974, 1983). Sabemos hoje que Marx dedicou-se a pesquisas matemáticas especialmente em dois momentos da sua vida: em fins da década de 1850, quando redigia os Grundrisse, e entre os finais dos anos 1870 e inícios dos 1880, quando trabalhava em manuscritos destinados aos livros II e III d’O capital.
Esta simples indicação cronológica sinaliza que nos esforços intelectuais de Marx (igual que nos de Engels) não se abrigava qualquer traço de diletantismo, como já observamos: suas pesquisas matemáticas foram determinadas naqueles momentos pelas necessidades postas pelo avanço da sua crítica da Economia Política (cf., p. ex., Damsma, 2009). Mas o exame dos seus manuscritos matemáticos revela que ele foi muito além do que lhe requisitavam as exigências postas pela redação dos livros II e III, como o demonstra a sinopse que deles apresenta uma equipe de historiadores: “Marx estudou as obras dos clássicos da matemática – Descartes, Leibniz, Newton, Euler, MacLaurin. […] Nos seus trabalhos, Marx procura mostrar a ligação dialética entre os conceitos e métodos fundamentais do cálculo diferencial e da álgebra elementar […]. Quanto à história da matemática, [Marx] define o papel de Newton, de Leibniz, de Euler, de d’Alembert e de Lagrange na criação e na elaboração do cálculo diferencial” (Fedosseiev, dir., 1983, p. 635). Na realidade, esses textos de Marx, analisados em ensaios elucidativos e detalhados [26], comprovam que ele desenvolveu, ao longo da sua vida de pesquisador, uma vocação realmente científica para a elaboração matemática, para a “matemática pura”, indo bem mais adiante do que lhe exigia a sua utilização instrumental (cf. Musto, 2018, pp. 43-44).
Antes de nos ocuparmos com os estudos marxianos referidos a ciências da natureza, é preciso assinalar a atenção de Marx para os passos então realizados por uma disciplina que haveria de constituir, uma vez institucionalizadas academicamente as ciências sociais, uma relevante área de pesquisa – a antropologia. Entre dezembro de 1880 e junho de 1881, Marx se dedicou à leitura da obra do norte-americano L. H. Morgan, publicada em 1877, A sociedade antiga (vertida ao português sob título um pouco diferente – Morgan, 1980). O exame a que Marx submeteu o trabalho de Morgan inscreveu-se no seu esforço para aprofundar o conhecimento de formas sociais pré-capitalistas e avançar na análise das suas transformações – esforço que, nos seus últimos anos de vida, levou-o a estudar uma série de autores que abordaram aquelas formas sociais. E ele registrou o largo elenco das fontes que consultou num conjunto de manuscritos que foram postumamente editados e apresentados por L. Krader (Marx, 1974a; ver também Marx, 2015a, com estudos de A. García Linera, p. 103 e ss. e 695 e ss.).
Na sua obra, a partir de pesquisas sobre populações autóctones da América do Norte, Morgan formulou uma interpretação da passagem da sociedade antiga, fundada em relações de parentesco, à sociedade centralizada pelo Estado e marcada pela unidade territorial – em suma, do trânsito da pré-história à história, da “barbárie à civilização”. Esquadrinhando o trabalho do antropólogo norte-americano, Marx (embora criticando algumas de suas teses particulares) constatou que Morgan, por sua própria conta, desenvolveu uma compreensão da pré-história compatível com as ideias expressamente materialistas que ele e Engels sustentavam há muito e projetou um texto para indicar a pertinência de generalizar os resultados alcançados por Morgan. A deterioração da sua saúde, acentuada a partir de 1882, impediu a realização deste projeto.
Logo após a morte de Marx, Engels examinou o manuscrito marxiano que tratava de Morgan e tomou a peito a concretização do projeto do amigo. Valeu-se das reflexões que Marx deixou escritas – mas foi muito mais adiante do que nelas havia: com uma notável erudição e a sua enorme capacidade de trabalho, recorreu a incontáveis fontes, revisou inúmeros estudos acerca da constituição da família, repassou autores antigos e mais recentes que trataram das diferentes formas históricas da propriedade, avançou na teoria (da extinção) do Estado e, entre março e maio de 1884, redigiu A origem da família, da propriedade privada e do Estado, publicado em outubro do mesmo ano (Engels, 2010 [27]). Esta obra engelsiana – em muito apoiada nos dados antropológicos da época – foi objeto de inúmeras críticas, mas estudos feministas contemporâneos têm prestado grande atenção à sua abordagem das condições e implicações do surgimento da família monogâmica (cf., p. ex., Bloodworth, 2018).
Retornemos a Marx e a seus cuidados com as ciências voltadas ao conhecimento da natureza. Já no início dos anos 1850, ele se debruçou sobre elas, registrando suas reflexões em seus cadernos de 1851-1853 (como anotou Foster, 2005, p. 202 e ss. [28]); mas se concentrou longamente nesses estudos a partir de 1875 e avançou neles até o fim de 1881 – e mesmo em finais de 1882 mencionava a Engels as perspectivas abertas pelo engenheiro francês de Marcel Deprez acerca da distribuição de energia elétrica a grandes distâncias (carta a Engels, 8 de novembro de 1892 – cf. Marx Engels Werke, 1967, vol. 35, p. 104). Apenas para ficarmos nos materiais mais expressivos que ele trabalhou cuidadosamente, listemos: em 1875, deteve-se nas pesquisas de A. N. Enguelgardt (Bases químicas da agricultura), em 1878 nas de J. F. W. Johnston (Conferências de química e geologia agrícolas) e, em seguida, deu atenção especial à química (H. E. Roscoe, C. Schorlemmer [29], R. H. Meyer); examinou ainda textos de geologia e mineralogia (J. Jukes, Grant Allen) e de fisiologia de vegetais, de animais e do homem (Mathias Schleiden, Johannes Ranke) e prestou a máxima atenção aos pioneiros intentos de Moritz Traube para conjugar a química e a biologia [30].
A relevância dos manuscritos marxianos relativos às ciências da natureza – grande parte deles só dados a público integral e postumamente (e muitos já na entrada do século XXI: cf. Marx-Engels, 2011 e 2019) – ganhou um destaque particular quando a problemática ecológica, visivelmente a partir dos anos 1980, conquistou um espaço considerável também entre os marxistas contemporâneos e, em especial, entre aqueles que se mobilizaram em torno do chamado ecossocialismo (Vega-Cantor, R., ed., 1998-1999, Löwy, 2014 e 2015). Sabe-se que Marx não foi, nem poderia ter sido, um ecologista no sentido contemporâneo da palavra – mas é indiscutível que ele possuía uma aguda “consciência ecológica” (Foster, 2005), verificável em inúmeros passos da sua obra [31]. E materiais marxianos já conhecidos foram objeto de novas leituras e diferentes interpretações (Foster, 2015, Saito, 2016 e 2017) e se acumulou uma bibliografia considerável [32].
Quanto ao legado de Engels relativo à sua interlocução com as ciências naturais, a parcela mais essencial, contida nos originais que redigiu para um projetado livro que intitularia Dialética da natureza, tornou-se bastante conhecida desde a sua primeira divulgação, em 1925 (Engels, 2020) – ainda que dois de seus textos tenham antes vindo a público (recorde-se que ele faleceu a 5 de agosto de 1895) [33]. Repassemos, num só parágrafo – como num vol d’oiseau –, o curso dos seus estudos.
O interesse de Engels pelas ciências da natureza começa mesmo na segunda metade dos anos 1850, década em que ele se dedicou – já radicado em Manchester e absorvido pelo trabalho de gestor de uma indústria têxtil – a dominar vários idiomas, inclusive antigos e orientais, e aprofundar leituras sobre história e arte militar (neste campo, acumulou ao longo da vida um notável conhecimento – cf. Engels, 1976). Mas não se ocupou somente com estas áreas do saber: com o seu invejável vigor físico e intelectual, voltou-se para a física, a fisiologia e a anatomia comparada (carta a Marx, 14/julho/1858 – MEW, 1963, 29, pp. 337-338) e, no final da década, foi dos primeiros leitores da obra de Darwin. A sequência da crise econômica que explodiu em 1857 interrompeu os estudos então iniciados, aos quais ele só voltou após a sua retirada do mundo dos negócios, quando se transferiu para Londres (1870). Em 1873, retomou sistematicamente a sua relação com as ciências naturais; suspendeu-a apenas no primeiro semestre de 1876, precisamente para redigir o Anti-Dühring [34], no qual já repontam as investigações que iniciara nos três anos anteriores; findo este trabalho, retornou ao estudo intensivo das ciências da natureza, em que prosseguiu até a morte de Marx (1883). Daí até os últimos dias de sua vida, todas as suas energias se dirigiram para a edição de textos marxianos, em especial os livros II e III d’O capital. Vale dizer: os materiais – resumos, sinopses, esboços, fragmentos e umas dezenas de páginas com reflexões mais acabadas – que Engels destinava à Dialética da natureza foram redigidos basicamente em 1873-1883 e o livro projetado nunca foi concluído por ele [35].
O escrutínio das mais de três centenas de páginas da Dialética da natureza comprova a exaustiva leitura e a análise percuciente de pensadores – filósofos e cientistas – antigos e modernos que se ocuparam com o conhecimento da natureza; neste âmbito, a textualidade teórica mais relevante da tradição ocidental, da velha Grécia a pesquisadores do terceiro quartel do século XIX, foi vasculhada por Engels, com mais detida atenção aos séculos posteriores ao Renascimento. À matemática coube funda perquirição; a física, nos seus distintos campos (astronomia, mecânica, termologia, eletricidade, magnetismo), foi minuciosamente esquadrinhada; a biologia e, em menor grau, a química receberam muitos cuidados. O notável esforço crítico-analítico de Engels foi direcionado no sentido de sustentar que uma fundamentação filosófica materialista e, especificamente, materialista-dialética, era necessária para o desenvolvimento científico do conhecimento da natureza – e que, embora sem o conhecimento da dialética (ou seja; às vezes de forma inconsciente), cientistas brilhantes já operavam com ela; ao mesmo tempo, supunha que um desenvolvimento expressamente dialético das ciências alteraria o próprio estatuto da filosofia em face delas. É de observar que Engels apreende o processo de desenvolvimento das ciências, tanto das suas concepções gerais quanto dos seus procedimentos experimentais, buscando as suas conexões com o desenvolvimento econômico-político que lhe é subjacente. É claro que muito da argumentação engelsiana expressa o nível de avanço das ciências do seu tempo – e disto decorre que o progresso delas, acentuado justamente no final do século XIX, anacronizou parte da sua argumentação [36].
Engels, como observamos, não conferiu aos seus manuscritos de 1873-1883 um tratamento final: deixou um conjunto de esboços e fragmentos a ser objeto de posterior elaboração e fixação textual; todavia, a sua publicação como livro em 1925 foi tomada por segmentos do campo marxista não como um rol hipóteses (por mais assertivas que pareçam), mas como expressão cerrada de um pensamento que se propunha a demonstrar que a história da natureza obedecia a uma dinâmica – dialética – homóloga à história da sociedade e é fato que, nos manuscritos de 1873-1883, as leis dialéticas que regem a natureza são as mesmas leis que operam na história. Abriu-se, então, um interminável debate acerca da existência ou não da dialética da natureza [37]; atualmente, mesmo que o debate não se tenha encerrado, essas posições polarizadas parecem ser substituídas pela hipótese de que a dialética operante na natureza não dispõe das mesmas categorias próprias à dialética da sociedade (como teleologia e liberdade).
Para além de todos os problemas, limites e possibilidades que a interlocução de um cientista social como Engels com as ciências naturais implicou [38], ela demonstra que, para os pesquisadores de todos os campos do saber, uma interação como esta só tem a oferecer reflexões enriquecedoras e provocativas – desde que processada com competência e rigor.
A serventia dos clássicos
Esta pequena nota, que enfatizamos ser apenas introdutória, partiu da ideia de que a fratura entre as “duas culturas” (Snow) ainda persiste – e não principalmente pela vontade pessoal/individual dos cientistas ocupados com a pesquisa da sociedade e da natureza, mas em função da divisão social do trabalho a que estão submetidos. Ela mostrou que, acentuada esta divisão especialmente pela organização institucional da pesquisa científica posterior a 1945, estes intelectuais, de modo similar a outros assalariados, experimentam uma alienação que não favorece o seu desenvolvimento cultural.
Em seguida, cuidou-se de dois cientistas sociais – Marx e Engels – que, não submetidos àquela divisão social do trabalho, cruzaram as fronteiras entre as “duas culturas”, com o que potenciaram e exponenciaram o seu esforço teórico e pelo seu desenvolvimento cultural tornaram-se clássicos do pensamento moderno e contemporâneo; e a qualificação de clássicos não lhes é negada nem mesmo por seus oponentes e adversários (desde que honestos e letrados).
Ora, cientistas clássicos podem ter duas serventias: podem ser tomados, de uma parte, como exemplos e, de outra, como lições – e, mais raramente, simultaneamente como exemplos e lições. O autor desta nota considera, e pode até mesmo estar em equívoco, que ambos, Marx e Engels, conquistaram, de fato, na cultura ocidental, este estatuto de clássicos e exercitaram a dupla serventia (e o signatário se apressa a acrescentar que outros, embora poucos, também dispõem de estatuto igual e similar serventia).
Se esta hipótese tiver fundamento – e, para o autor, ela o possui –, então tem cabimento um pequeno artigo como este, cujo expresso objetivo é convidar o leitor a conhecer melhor os dois cientistas de que se tratou nessas poucas páginas. E com uma derradeira observação: eles foram capazes de fazer o que fizeram porque pensaram a pesquisa a que dedicaram a vida como a busca da verdade (donde o seu exemplo) para servir à transformação do mundo (donde a sua lição).
Referências
Alcouffe, A. (1985) Les manuscriptes mathématiques de Marx. Paris: Economica.
Angus, I. (2017) “Marx and Engels and the ‘Red Chemist’. The forgotten legacy of Carl Schorlemmer”. New York: Monthly Review, vol. 68, issue 10, march 2017.
Bernal, J. D. (1975-1978) Ciência na história. Lisboa: Horizonte, I-VII.
Bianchetti, L. (2015) O processo de Bolonha e a globalização da educação superior. Campinas: Mercado de Letras.
Bloodworth, S. (2018) “The origins of women’s oppression – a defense of Engels and a new departure”. Marxist Left Review. Melbourne: Socialist Alternative, nº 16, Winter 2018.
Bottomore. T., Nisbet, R., orgs. (1980) História da análise sociológica. Rio de Janeiro: Zahar.
Braverman, H. (1977) Trabalho e capital monopolista. Rio de Janeiro: Zahar.
Brown, A. (2005) J. D. Bernal: The Sage of Science. Oxford: Oxford University Press.
Bukharin, N. I. et al., eds. (2014) Science at the Cross Roads. Abington: Routledge.
Burkett, P. (2014) Marx and Nature: A Red and Green Perspective. Chicago: Haymarket.
Charle, C. e Soulié, C., dirs. (2007) Les ravages de la modernisation universitaire. Paris: Syllepse.
Cornu, A. (1975-1976) Carlos Marx. Federico Engels. Havana: Ed. Ciencias Sociales, I-IV.
Cottret, B. (2010) Karl Marx. Une vie entre romantisme et révolution. Paris: Perrin.
Cuin, C.-H.. Gresle, F. (1994) História da sociologia. S. Paulo: Ensaio.
Damsma, D. (2009) Marx’s systematic dialectics and mathematics and their articulation in his ‘Schemes of reproduction’. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
Danieli, G. A. et al., eds. (2013) Stephen J. Gould: The Scientific Legacy. Milano: Springer.
Dawkins, R. (2007) Deus, um delírio. S. Paulo: Cia. das Letras.
Dejours, C., org. (1988) Plaisir et souffrance dans le travail. Paris: AOCIP.
Doel, R. E., T. Söderqvist, T., eds. (2006) The Historiography of Contemporary Science and Technology. Abington: Routledge.
Duménil, G. (1978) Le concept de loi économique dans “Le capital”. Paris: Maspero.
Durkheim, E. (1975) Textes. Fonctions sociales et institutions. Paris: Minuit.
__________. (2019) Da divisão do trabalho social. S. Paulo: WMF.
Engels, F. (1968?) Dialética da natureza. Rio de Janeiro: Leitura.
_______ . (1976) Temas militares. Lisboa: Estampa.
_______ . (1980) Do socialismo utópico ao socialismo científico. S. Paulo: Global.
______ . (2010) A origem da família, da propriedade privada e do Estado. S. Paulo: Expressão Popular..
______ . (2015) Anti-Dühring. A revolução da ciência segundo o senhor Eugen Dühring. S. Paulo: Boitempo.
_______ . (2020) Dialética da natureza. S. Paulo: Boitempo.
Foster, J. B. (2005) A ecologia de Marx. Materialismo e natureza. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira
________. (2015) “Marxism and ecology: common fonts of a great transition”. Monthly Review. New York: Monthly Review Press, vol. 67, nº 7, dec./2015.
_______ . (2020) “Engels’s Dialectics of Nature in the Anthropocene”. Monthly Review. New York: Monthly Review Press, vol. 72, nº 72, nov./2020.
Foster, J. B., Burkett, P. (2016) Marx and the Earth: An Anti-Critique. Boston/Leiden: Brill.
Fedosseiev, P. N., dir. (1983) Karl Marx. Biografia. Lisboa/Moscou: Avante!/Progresso.
Gabriel, M. (2013) Amor e capital. A saga familiar de Karl Marx e a história de uma revolução. Rio de Janeiro: Zahar.
Galison, P., Hevly, B., eds. (1992) Big Science. The Growth of Large Scale Research. Stanford: Stanford University Press.
Gasper, P. (1998) “Bookwatch: Marxism and Scence”. London: International Socialism, issue 79, Summer 1998.
Gerdes, P. (2008) Os manuscritos filosófico-matemáticos de Karl Marx sobre o cálculo diferencial. Uma introdução. Maputo: Universidade Eduardo Mondlane.
Geymonat, L. dir. (1976-1977) Storia del pensiero filosofico e scientifico. Milano: Aldo Garzanti, I-VI.
Giddens, A., Turner, J. H., eds. (1987) Social Theory Today. Cambridge: Polity Press.
Hallonsten, O. (2016) The Big Science Transformed. Science, Politics and Organization in Europe and the United States. London: Palgrave Macmillan.
Heijenoort, J. Van (1985) “Friedrich Engels and mathematics”. Select Essays. Napoli: Bibliopolis.
Horowitz, I. I., coord. (1969) Ascensão e queda do Projeto Camelot. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.
Hunt, T. (2010) Comunista de casaca. A vida revolucionária de Friedrich Engels. Rio de Janeiro: Record.
Jones, G. S. (2017) Karl Marx. Grandeza e ilusão. S. Paulo: Cia. das Letras.
Kagan, J. (2009) The Three Cultures: Natural Sciences, Social Sciences and the Humanities in the 21st Century. New York: Cambridge University Press.
Kangal, F. (2020) Friedrich Engels and the Dialectics of Nature. London: Palgrave Macmillan.
Kay, J. (2007) “Science, religion and society: Richard Dawkins’s The God Delusion” – disponível em wsws.org/en/articles/2007/03/dawk-m15.html.
Kennedy, H. C. (1977) “Karl Marx and the Foundations of Differential Calculus”. Historia Matematica. Amsterdam: Elsevier, 4, 1977.
Kofler, L. (2010) História e dialética. Estudos sobre a metodologia da dialética materialista. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ.
Lecourt, D. (1976) Lyssenko. Histoire réelle d’une “science prolétarienne”. Paris: F. Maspero.
Lewontin, R. C., Levins, R. (2002) “Stephen Jay Gould – What Does It Mean To Be a Radical?”. New York: Monthly Review, vol. 54, issue 06/November, 2002.
Lima, M. E. A. (1998) “A psicopatologia do trabalho”. Psicologia. Ciência e profissão. Brasília, vol. 18, nº 2, 1998.
Löwy, M. (1994) As aventuras de Karl Marx contra o barão de Münchhausen. S. Paulo: Cortez.
_______ . (2014) O que é ecossocialismo?. S. Paulo: Cortez.
______ . (2015) Ecosocialism : a radical alternative to capitalist catastrophe. Chicago: Haymarket.
Lukács, G. et alii (1966). Estrutura de classes e estratificação social. Rio de Janeiro: Zahar.
Lukács, G. (1979) Existencialismo ou marxismo?. S. Paulo: Ciências Humanas.
________ . (2012) Para uma ontologia do ser social. I. S. Paulo: Boitempo.
________ . (2013) Para uma ontologia do ser social. II. S. Paulo: Boitempo.
Outhwaite, W., Bottomore, T. (1996) Dicionário do pensamento social do século XX. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
Perlo, V. (1969) Militarismo e indústria. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
Marx, K., Engels, F. (1962) Marx-Engels Werke/MEW. Berlin: Dietz, vol. 21.
_______________. (1963) Marx-Engels Werke/MEW. Berlin: Dietz, vol. 29.
_______________ .(1963a) Obras escolhidas. Rio de Janeiro: Vitória, vol. 3.
______________ . (1967) Marx-Engels Werke/MEW. Berlin: Dietz, vol. 35.
______________ . (1967a) Marx-Engels Werke/MEW. Berlin: Dietz, vol. 36.
______________ . (1973) Letters sur les sciences de la nature (et les mathématiques). Paris: Éd. Sociales.
______________ . (1998) Manifesto do partido comunista. S. Paulo: Cortez.
______________ . (2007) A ideologia alemã. S. Paulo: Boitempo.
_______________ . (2010) Cultura, arte e literatura. Textos escolhidos. S. Paulo: Expressão Popular.
______________ . (2011) Marx-Engels-Gesamtausgabe, MEGA2. IV/31. Berlin:Akademie/De Gruyter.
______________ . (2019) Marx-Engels-Gesamtausgabe, MEGA2. IV/18. Berlin:Akademie/De Gruyter.
Marx, K. (1974) Mathematische Manuskripte. Kronberg/Taunus: Sciport Verlag.
______ . (1974a) The Ethnological Notebooks of Karl Marx. Assen (The Netherlands): Van Gorkum.
______. (1983) Marx’s Mathematical Manuscripts. London: New Park.
______. (2011) Grundrisse. Manuscritos econômicos de 1857-1858. Esboços da crítica da economia política. S. Paulo: Boitempo.
______ . (2013) O capital. Crítica da economia política. Livro I. S. Paulo: Boitempo.
_______.(2015) Manuscritos de Paris & Manuscritos econômico-filosóficos de 1844. S. Paulo: Expressão Popular.
_______ . (2015a) Escritos sobre la comunidad ancestral. La Paz: Fondo Editorial y Archico Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional/Vicepresidencia del Estado Plurinacional.
_______ . (2017) O capital. Crítica da economia política. Livro III. S. Paulo: Boitempo.
Mayer, G. (1979) Friedrich Engels. México: Fondo de Cultura Económica.
_______ . (2020) Friedrich Engels. Uma biografia. S. Paulo: Boitempo.
McGarr, P. (1994) “Engels and natural science”. International Socialism Journal. London: Issue 65, Winter, 1994.
Mehring, F. (2013) Karl Marx. A história de sua vida. S. Paulo: Sundermann.
Mills, C. W. (1969) A nova classe média. (White collar). Rio de Janeiro: Zahar.
Morgan, L. H. (1980) A sociedade primitiva. Lisboa: Presença, I-II.
Musto, M. (2011) Ripensare Marx e i marxismi. Roma: Carocci.
_______ . (2018) O velho Marx. S. Paulo: Boitempo.
Nascimento, H. M. (2009) “Pioneiros da ecologia política agrária contemporânea”. Ambiente & Sociedade. Campinas, vol. 12, nº 2, jul.-dez. 2009).
Netto, J. P. (2004) Marxismo impenitente. Contribuição à história das ideias marxistas. S. Paulo: Cortez.
_______ . (2020) Karl Marx. Uma biografia. S. Paulo: Boitempo.
Quaini, M. (1979) Marxismo e geografia. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
Ricci, A. (2018) “La matematica di Marx”. Lettera Matematica Pristem. Milano: Springer, vol. 106, ott./2018.
Roll-Hansen, N. (2005) The Lysenko Effect. The Politics of Science. New York: Humanity Books.
Royle, C. (2014) “Dialectics, nature and the dialectics of nature”. London: International Socialism, nº 141, 2014.
Saito, K. (2016) “Marx’s Ecological Notebooks”. New York: Monthly Review, vol. 67, issue 09, 2016.
______. (2017) Karl Marx. Ecosocialism: Capital, Nature and the Unfinished Critique of Political Economic. New York: Monthly Review Press.
Santos, B. S. (1995) Pela mão de Alice. O social e o político na pós-modernidade. S. Paulo: Cortez.
Serman, P. (2013) “Karl Marx et le calcul infinitesimal”. Reperes-IREM. Nancy: Topiques, nº 91, avril/2013.
Sève, L., coord. (1998) Sciences et dialectiques de la nature. Paris: La Dispute.
Sheehan, H. (2018) Marxism and the Philosophy of Science. A Critical History. London: Verso.
Sokal, A., Bricmont, J. (1999) Imposturas intelectuais. Rio de Janeiro: Record.
Smith, A. (1999) Inquérito sobre a natureza e as causas da riqueza das nações. Lisboa: Fund. Calouste Gulbenkin, vol. I.
Snow, C. P. (2015) As duas culturas e uma segunda leitura. S. Paulo: EDUSP.
Subramanian, S. (2020) A Dominante Character. The Radical Science and Restless of J. B. Haldane. New York: W. W. Norton.
Taton, R., dir. (1964) Histoire générale des sciences. III/2. La science contemporaine. Paris: PUF.
Vadée, M. (1992) Marx, penseur du posible. Paris: Klincksieck.
Vega-Cantor, R., ed. (1998-1999) Marx y el siglo XXI. Hacia un marxismo ecológico y crítico del progreso. Bogotá: Pensamiento Crítico, I-II.
Wheen, F. (2001) Karl Marx. Rio de Janeiro: Record.
Werskey, G. (1988) The Visible College. A Collective Biography of British Scientists and Socialists of the 1930s. London: Free Association Books.
Witkowski, N., dir. e coord. (1995) Ciência e tecnologia hoje. S. Paulo: Ensaio.
York, R., Clark, B. (2011) The Science and Humanism of Stephen Jay Gould. New York: Monthly Review Press.
[1] Esclareço ao leitor que a terminologia “ciências sociais/ciências naturais” não me parece inteiramente adequada – mas usá-la-ei neste artigo por mera comodidade.
[2] Foram inúmeros os autores que apontaram os limites sociológicos da crítica de Dawkins à religião – entre tantos, cf. o breve artigo de Kay, 2007.
[3] Sobre a obra de Gould, cf. Lewontin e Levins, 2002, York e Clark, 2011 e Danieli et al., eds., 2013.
[4] Desta historiografia, ignoro se há livros de J. B. S. Haldane vertidos ao nosso idioma, mas a obra principal de J. D. Bernal está acessível em português (Bernal, 1975-1978). Sobre tais cientistas, cf. Werskey, 1988, Brown, 2005 e Subramanian, 2020.
Mesmo sem ser este o espaço para sequer tangenciar esta historiografia marxista, penso serem indispensáveis aqui duas observações:
- tudo indica que ela foi inicialmente estimulada pela realização, em Londres, em 1931, do II Congresso Internacional de História da Ciência e da Tecnologia, quando a delegação soviética apresentou um relatório que teve grande ressonância (cf. Bukharin et al., eds., 2014);
- esta historiografia, mais tarde, no seu evolver, viu-se parcialmente afetada pela vaga do marxismo vulgar próprio do dogmatismo stalinista, de que foi emblemático o “caso Lissenko” (sobre o qual, entre muitos estudos, cf. os de Lecourt, 1976 e Roll-Hansen, 2005).
Para uma competente análise histórica do desenvolvimento da filosofia da ciência subjacente às contribuições marxistas à história da ciência, cf. Sheehan, 2018.
[5] É consabida a “essência” deste argumento artificioso: a especialização exigida pelo avanço científico e tecnológico contemporâneo é de tal ordem que dificultaria (e, no limite, impediria) que os cientistas adquiram conhecimentos que desbordem a sua área de trabalho específica – isto é, o argumento sustenta que uma alta qualificação determinada e particular obstaculiza (e, no limite, exclui) o conhecimento amplo de outros campos do saber. Trata-se da tolice segundo a qual a erudição cultural, científica e/ou teórica só foi possível e viável em tempos de menores desenvolvimento e acúmulo da massa crítica – tempos pretéritos, contemplados nostalgicamente como próprios ao “enciclopedismo”.
[6] Uma alternativa às formulações revolucionárias de Marx e Engels surgiu, em 1893, na obra do primeiro grande sociólogo francês, E. Durkheim, que então elaborou uma teoria conservadora da divisão do trabalho (teoria que exerceu grande influência nas teses sobre estratificação social do funcionalismo norte-americano de meados do século XX – cf. Durkheim, 2019, e K. Davis e W. Moore, in Lukács et alii, 1966).
[7] Cf. a primorosa análise marxiana do fetichismo das mercadorias e do dinheiro (Marx, 2013, pp. 146-158).
[8] Cf. fontes que remetem à bibliografia francesa, p. ex., Dejours, 1988 e Lima, 1998.
[9] Eis uma passagem marxiana, dentre dezenas, que conecta o efeito do trabalho assalariado sobre o mundo material e espiritual do trabalhador: “O trabalho produz obras maravilhosas para os ricos, mas produz privação para o trabalhador. Produz palácios, mas tugúrios para o trabalhador. Produz beleza, mas mutilação para o trabalhador. Substitui o trabalho por máquinas, mas lança uma parte dos trabalhadores a um trabalho bárbaro e faz da outra parte máquinas. Produz espírito, mas produz idiotice, cretinismo para o trabalhador” (Marx, 2015, pp. 307-308 [itálicos meus/JPN]).
[10] Ainda nos anos 1840, Marx e Engels escreviam: “A burguesia despiu da sua auréola sagrada todas as atividades até então veneráveis e reputadas como dignas. Transformou o médico, o jurista, o padre, o poeta, o homem de ciência em trabalhadores assalariados […]” (Marx e Engels, 1998, p. 8 [itálicos meus/JPN]).
[11] Parece que esses profissionais sempre dispuseram, à diferença dos trabalhadores diretamente ligados à produção material, de uma ponderável mobilidade ocupacional. Note-se, porém, que recentes contra-reformas político-econômicas promovidas sob a orientação dita neoliberal estão forçando tal mobilidade mediante uma “flexibilização” do mercado de trabalho que tem precarizado os vínculos empregatícios e as relações de trabalho também desses profissionais.
[12] Tanto no caso das “ciências duras” quanto no das ciências sociais, essa modelagem da pesquisa foi objeto de ampla problematização. Para um exemplo, dentre outros, das polêmicas no quadro das ciências sociais, cf. Horowitz, coord., 1969.
[13] Os indicadores dessa produtividade constituem uma questão polêmica e sempre em aberto, ainda que as soluções mais freqüentes sejam de cariz quantitativo e decididas inter pares.
[14] Está clara, neste processamento e num nível mais complexo, a velha e reiterada divisão entre os que concebem e os que executam – que foi tema, em 1974, de polêmico ensaio de Braverman (1977).
[15] Nas duas últimas décadas, tais visões, cada vez mais empobrecidas, da herança cultural do Ocidente estão sendo fomentadas no âmbito da formação universitária – leve-se em conta a emblemática redução do espaço cultural na vida acadêmica promovida por instrumentos (como o Protocolo de Bolonha – cf., p. ex., Charle e Soulié, 2007 e Bianchetti, 2015) que privilegiam exigências de mercados de trabalho controlados por grandes empresas. O trabalho dirigido e coordenado por Witkowski, 1995, destinado ao grande público leigo e referido especialmente à Europa antes do Protocolo de Bolonha, oferece informações úteis não só sobre a formação de cientistas, mas também sobre as suas comunidades e políticas de pesquisa e seu financiamento.
[16] Dentre tais biógrafos, relacionamos nas referências (cf. infra) especialmente, entre os “clássicos”, Mehring, Mayer e Cornu; entre os contemporâneos, Hunt, Jones, Musto e Gabriel.
[17] Em anos mais recentes, a partir da pré-publicação do texto d’A ideologia alemã na edição da MEGA2, abriu-se uma enorme polêmica sobre esta obra. Para a minha posição nesta polêmica, e para fontes sobre a MEGA2, permito-me remeter o leitor a inúmeros passos da minha biografia de Marx (Netto, 2020).
[18] Para o desenvolvimento sistemático e exaustivo das categorias aqui referidas, cf. Lukács, 2013, pp. 41-157 e 159-354.
[19] Não se tem registro de contactos pessoais entre Marx e Darwin; sabe-se apenas que, com uma dedicatória datada de 16 de junho de 1873, Marx enviou-lhe um exemplar da segunda edição do livro I d’ O capital, cuja recepção foi acusada pelo naturalista em carta de outubro do mesmo ano.
Aproveite-se a oportunidade para esclarecer, como já o fizeram outros estudiosos, que não é verdade que Marx tenha pretendido dedicar O capital a Darwin e que este tenha declinado da homenagem – como se divulgou frequentemente. Está claro, hoje, que essa informação equivocada resultou da consideração de uma carta de Darwin como endereçada a Marx quando, de fato, o destinatário era E. Aveling.
[20] Quanto a isto, um conhecido pós-moderno, o celebrado sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, formulou críticas extremamente infundadas a Marx em livro que, quando publicado, foi um êxito comercial (Santos, 1995). Atrevi-me a assinalar a inépcia de Santos num texto polêmico, depois coligido em Netto, 2004, pp. 223-241.
[21] Obviamente vê-se que, aqui, leis e legalidade não se referem ao domínio jurídico, mas remetem a regularidades e conexões observáveis e generalizáveis na natureza e na sociedade.
[22] Não é possível desenvolver aqui a concepção marxiana do caráter tendencial das leis econômico-sociais. Para o leitor interessado, indico, entre uma larga bibliografia, Lukács, 2012, cap. IV, e com tratamento menos abrangente, Duménil, 1978 e Vadée, 1992.
[23] Para aqueles que se dispõem a empreender tais estudos, permito-me sugerir que evitem os divulgados “manuais de marxismo” que vulgarizam o método dialético e tenham como referência obras como a de Kofler, 2010.
[24] Em carta a J. P. Becker, de 15/10/1884, Engels escreveu: “Passei uma vida inteira fazendo o que era adequado para mim – tocando o segundo violino e, de fato, acredito que me saí razoavelmente bem. E fiquei feliz por ter um primeiro violino tão esplêndido como Marx” (Marx Engels Werke, vol. 36, 1967, p. 218). E, em 1886, referindo-se ao seu papel na elaboração da teoria social revolucionária, afirmou: “A contribuição que eu trouxe […], Marx também teria podido trazê-la, mesmo sem mim. Em compensação, eu jamais teria feito o que Marx conseguiu fazer. Marx tinha mais envergadura e via mais longe, mais ampla e mais rapidamente que todos nós. Marx era um gênio e nós, no máximo, homens talentosos. Sem ele, a teoria estaria hoje muito longe de ser o que é” (Marx Engels Werke, vol. 21, 1962, pp. 291-292).
[25] É no mínimo paradoxal ter O capital como “obra de Economia” – justamente a obra cujo título original e completo é O capital. Crítica da economia política.
[26] Cf., entre muitos, Kennedy, 1977, Janosvskaya e Kolman, in Marx, 1983, Alcouffe, 1985, Gerdes, 2008, Serman, 2013 e Ricci, 2018. Também Engels dedicou reflexões à matemática (p. ex., Engels, 2020, pp. 217-233) – cf. Heijenoort, 1985.
[27] Esta edição brasileira é apresentada por S. Lessa, que a complementou com um esclarecedor ensaio da antropóloga norte-americana E. B. Leacock. Note-se que, para a quarta edição da obra (1891), Engels reviu completamente o texto original e incorporou a ele os avanços verificados nas pesquisas da época –
o que revela a sua preocupação em acompanhar atentamente os progressos do conhecimento.
[28] Ao longo de todo este excelente livro de Foster encontram-se referências aos textos/autores que Marx recorreu no seu trato com as ciências naturais – e Foster foi dos primeiros a chamar a atenção para o fato de a concepção de Marx de metabolismo sociedade/natureza provir da sua leitura de Justus von Liebig – sobre este ponto, ver ainda Nascimento, 2009.
[29] Cf. o belo artigo de Angus, 2017 sobre as relações entre Marx e Engels e o grande químico.
[30] Talvez interesse ao leitor saber que o trato sério que Marx sempre dispensou às “ciências duras” garantiu-lhe o respeito pessoal e a admiração de pesquisadores altamente credibilizados – ao seu funeral (17/03/1883), assistido por um pequeno grupo de amigos, estiveram presentes cientistas como C. Schorlemmer e E. R. Lankester, membros da Royal Society of London for Improving Natural Knowledge.
[31] Lê-se, p. ex., n’O capital: “Do ponto de vista de uma formação econômica superior da sociedade [Marx se refere aqui ao futuro comunista], a propriedade privada do globo terrestre nas mãos de indivíduos isolados parecerá tão absurda quanto a propriedade privada de um ser humano sobre outro ser humano. Mesmo uma sociedade inteira, uma nação, ou, mais ainda, todas as sociedades contemporâneas não são proprietárias da Terra. São apenas possuidoras, usufrutuárias dela, e, como boni patres famílias [bons pais de famílias], devem legá-la melhorada às gerações seguintes” (Marx, 2017: 836). No seu sintético, porém brilhante, ensaio sobre o marxismo e a geografia, Quaini oferece inúmeros elementos que comprovam a “consciência ecológica” de Marx (Quaini, 1974, cap. V).
Também em Engels encontram-se nítidos traços de uma “consciência ecológica”; lê-se numa de suas reflexões sobre o crescente domínio da sociedade sobre a natureza: “Entretanto, não fiquemos demasiado lisonjeados com nossas vitórias humanas sobre a natureza. Esta se vinga de nós por toda vitória […]. Cada vitória até leva, num primeiro momento, às consequências com que contávamos, mas, num segundo e num terceiro momentos, tem efeitos bem diferentes, imprevistos, que com demasiada frequência anulam as primeiras consequências. As pessoas que acabaram com as florestas na Mesopotâmia, na Grécia, na Ásia Menor e em outros lugares para obter terreno cultivável nem sonhavam que estavam lançando a base para a atual desertificação dessas terras […]. A cada passo somos lembrados de que não dominamos de modo nenhum a natureza como um conquistador domina um povo estrangeiro, ou seja, como alguém que se encontra fora da natureza – mas fazemos parte e estamos dentro dela […] e todo o nosso domínio sobre ela consiste em que, distinguindo-nos de todas as outras criaturas, somos capazes de conhecer suas leis e aplicá-las corretamente” (Engels, 2020, pp. 347-348).
[32] Se, nos anos 1970, Quaini (1974, p. 153) reclamava da escassez da literatura marxista sobre ecologia, hoje ela é abundante – lembremos, dentre grande e diferenciada lista, uns poucos nomes: P. Burkett, R. York, M. Löwy, A. Malm, J. B. Foster, K. Soper, J. Kovel, Ted Benton, J. W. Moore, C. Williams, B. Clark, K. Saito.
[33] Tais textos são “O papel do trabalho na hominização do macaco”, publicado em 1896, e “A pesquisa da natureza no mundo dos espíritos”, saído à luz em 1898 – ambos estão acessíveis em Engels, 2020, pp. 83-94 e 337-351. Decerto que a Dialética da natureza não reúne todos os textos engelsianos pertinentes ao estudo das ciências naturais – outros foram posteriormente publicados.
[34] Uma série de artigos de crítica a E. Dühring, pensador que então empolgava os social-democratas alemães, publicados na imprensa partidária entre 1877 e 1878 e reunidos em livro em agosto de 1878 (Engels, 2015). Materiais extraídos deste livro compuseram o opúsculo Do socialismo utópico ao socialismo científico (Engels, 1980).
[35] A apresentação do editor alemão (cf. Engels, 2020, pp. 25-30) oferece ao leitor uma detalhada informação sobre a estrutura do que seria a Dialética da natureza e o estado em que Engels deixou os originais.
[36] A primeira edição inglesa de Dialética da natureza (1939) foi prefaciada e anotada por J. B. S. Haldane, que indicou criteriosamente os avanços científicos que problematizavam várias das teses de Engels – este prefácio e as notas de Haldane foram incluídos numa precária edição brasileira da Dialética da natureza (Engels, 1968?).
[37] Os autonomeados marxistas-leninistas assumiram como indiscutível uma “dialética da natureza”, enquanto os representantes do chamado marxismo ocidental se exauriram para demonstrar a sua inexistência. Nesta oportunidade, não é possível entrar nesse debate, sobre o qual existe copiosa documentação.
[38] E de alguma forma eles podem ser detectados textos breves, como o de McGarr, 1994, em ensaios como o de Foster, 2020 e em trabalhos como o de Kangal, 2020.