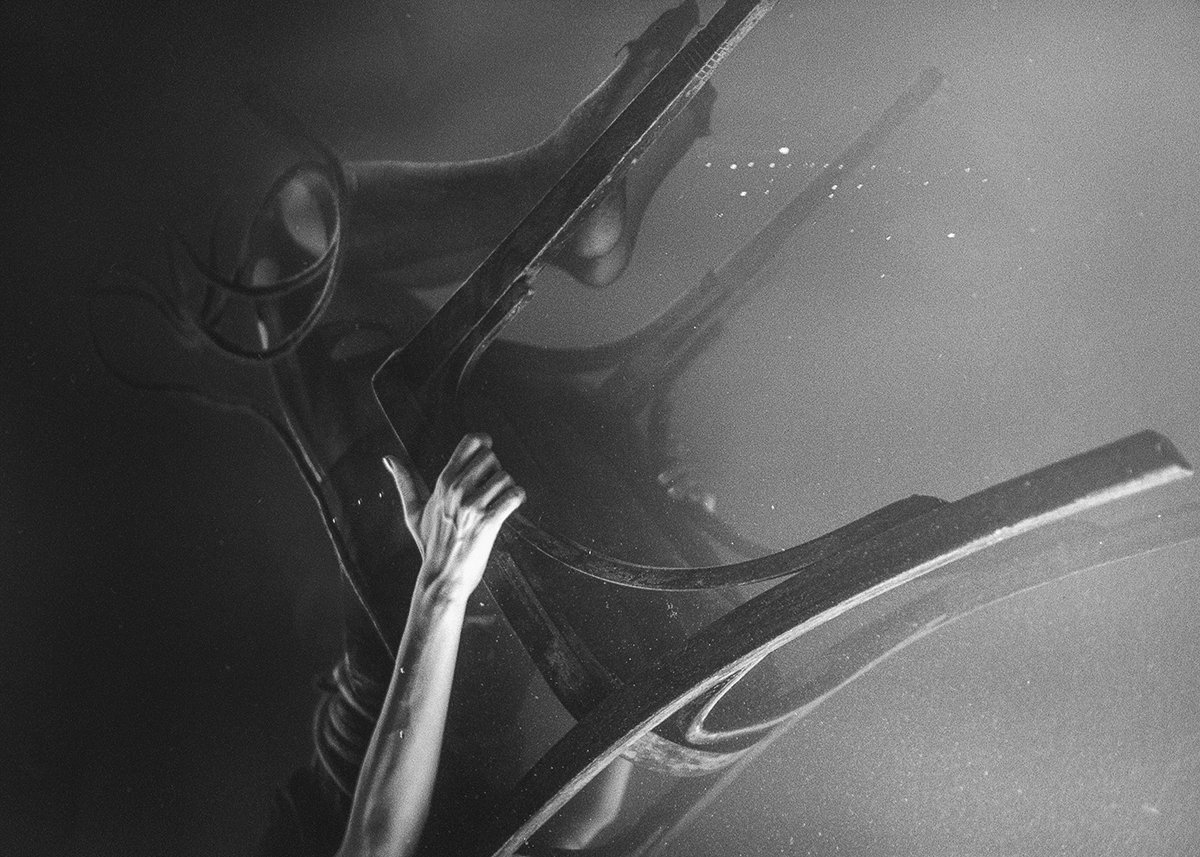O Discurso ficcional
Dois esclarecimento prévios. O termo ‘discurso’ remete à diferença entre língua e linguagem. Se os falantes nativos falam a mesma língua, o modo como a empregam, com menor ou maior atualização de seus recursos lexicais e sintáticos, depende, além de seu nível de formação, do meio profissional em que se integra o seu texto. Daí decorre que o mesmo falante costume praticar pelo menos duas linguagens: a pragmático-cotidiana e a corrente em seu meio profissional. Se é evidente que a linguagem profissional de um químico não é idêntica à de um biólogo, que não é idêntica à de um físico, etc, todas elas contêm o mesmo padrão de linguagem enquanto exercitam um padrão científico. Por conseguinte, do ponto de vista discursivo, a espécie de linguagem a eles comum é a linguagem das ciências naturais. Pelo mesmo raciocínio, entende-se que, ao falar em linguagem ficcional, trato da linguagem de poetas e prosadores literários. Acrescente-se a respeito: a linguagem de teóricos da literatura e analistas, os chamados críticos, não é (ou não deve ser) ficcional.
Passemos ao segundo. Ele se refere à própria ficcionalidade. Convém desde logo que nos perguntemos: por que a linguagem ficcional não é exclusiva de certa língua? Por economia de tempo, parte-se da negatividade. Não, não é ocasional que o termo se encontra em todas as línguas conhecidas. Mas e a sua acepção seria igualmente longa?
Não, nos séculos anteriores ao XVIII, o termo fictio tinha uma acepção fundamentalmente jurídica. Como esclarece o filólogo Manfred Furhrmann, “fictio” não era estabelecido por lei, i.e., não era promulgado pela assembleia do povo, senão casuisticamente, por um magistrado romano, a fim de que o crime de furto pudesse ser atribuído a um estrangeiro (cf. Fuhrmann, M;: 1983, 413). Fora do direito romano, sua vigência se restringia à oratória. Como esclarecia Quintiliano, nas Institutio oratoria: “Quando com tanta frequência se fala em justiça, na força da alma, na moderação e noutras virtudes semelhantes, (…) seria de duvidar que, em todas as partes em que a força do talento e a abundância da palavra são indispensáveis, o papel do orador é o principal?” (Quintiliano: – , I, 12).
Mas a questão de sua temporalidade não é tão facilmente resolúvel. Sinteticamente, insistimos não só em que sua tematização só se efetuará s a partir do século XVIII, como que seu aprofundamento teórico se dá bem recentemente, ao passo que sua razão de ser já era objeto de indagação dos gregos, sendo desenvolvida por um nosso contemporâneo, Wolfgang Iser. É a partir de anotação que Aristóteles atribuía a um certo médico grego que Iser vai iniciar sua indagação: se a vida conhece a morte, dizia o médico Alcmaion assim sucede porque ela não enlaça seu começo a seu fim. A ficção se origina deste desenlace e consiste em estabelecer uma ligação no meio. O que vale dizer, a ficção é motivada por a vida não ter uma estrita continuidade. Por isso ainda a ficção é, ao mesmo tempo, um conector e uma transgressão. Por nossa conta, acrescentemos: a ficção tem a aparência de algo ilusório, superficial e se indispor ao princípio de realidade. Esta primeira impressão a relega ao plano do ornamental. Já a segunda, ao contrário, de condensar em si o que não cabe na realidade, a que bem poderíamos chamar a realidade do irreal. Isso ficará mais claro quando tratarmos da raiz da ficção na cláusula do “como se”.
Esclarecimentos dados, venhamos ao mínimo de sua história. É apenas no começo do século XIX, entre 1813 e 1815, que Jeremy Bentham se dedica a ela. Note-se que, embora em data assim recente, que seu cuidado não remetia à concepção de literatura ou à sua relação com a retórica, senão que às irregularidades da jurisprudência inglesa. É ademais no mínimo curioso que não tenha escrito sequer um artigo a respeito, limitando-se a anotações que seriam reunidas, no século seguinte, pelo linguista e filósofo Charles K. Ogden, na obra Theory of fictions (1932). A passagem seguinte mostra inclusive seu descaso, senão desprezo pela literária do termo :
As ficções do poeta, em seu caráter de fabulador histórico ou fabulador dramático, dispondo ou não as palavras de seu discurso em forma métrica, são puros de insinceridade (…) e não visam senão a agradar, a menos que, em certos casos, visem a excitar para a ação (…) (ib., 18)
Considere-se ainda que, se em data recente, Hans Blumenberg englobava a ficção em sua reconsideração da retórica, 55 anos antes, Bentham fazia o mesmo com a inversão dos nomes: a retórica sacerdotal ou jurídica era uma forma de enganar, i.e., de parcializar o uso da ficção. As duas referências parecem mostrar a dificuldade de precisar o estatuto da ficção. Antes de novos esclarecimentos, devemos tratar do segundo antecessor: Hans Vaihinger.
Pode parecer estranho mas não é surpreendente que a segunda investida em esclarecer o ficcional, a se dar quase um século depois, em 1911, expusesse o mesmo descaso pela ficção na arte verbal. Mas não é surpreendente se se considera tantos terem sido os séculos em que se falou desta sem a necessidade de precisá-la. Para que precisar o que de antemão se justificava como mero divertimento? Os dois precursores, por conseguinte, hão de ser lembrados pela função que concediam a um objeto que não havia propriamente entrado em uma teoria do conhecimento.
Assim como Bentham tornara o âmbito do ficcional superponível à extensão da retórica sacerdotal e jurídica , também em Vaihinger o explicitamente reconhecível como real se confundia com a indagação do ficcional. Nem por isso, entretanto, eles coincidiam: o que em Bentham tinha o peso do material converte-se um século depois na ênfase do subjetivo. Demonstra-o a leitura que faz da “coisa em si kantiana”. O conceito kantiano é considerado uma ficção, entendido como um mero instrumento de cálculo; por ela, a realidade torna-se calculável. Tendo êxito nesta função, a “coisa em si”, será depois abolida. “(…) Para o nosso ponto de vista, a sucessão e a coexistência das sensações são o real derradeiro, a que se acrescentam dois polos, objeto e sujeito” (Vaihinger, H.: 1911, 112).
Pensado como um instrumento de cálculo, o princípio kantiano será então desmontado. Assim, mais amplamente, o ficcional é uma apenas ferramenta útil na construção de conceitos. Deste modo, mantendo o em confronto com a argumentação kantiana, a interpretação ética se apoia em um fundamento de mesma espécie – Deus, a imortalidade, a punição, etc. Em uma visão mais geral, Vaihinger divergia da interpretação kantiana da ética por entender que ela impunha uma base ideal, não integrável à realidade. As ficções são duradouras enquanto instrumentos. O legado kantiano era deformado por ser lido positivisticamente, i.e., pelo primado do científico.
O desencanto que mantenho quanto à argumentação de Vaihinger começa com sua reiteração na utilidade a que sujeita as ficções. Para melhor entendê-lo, fixemo-nos no que entende por realidade e o que concede ao ficcional. A transformação a que submete a “coisa em si” não é bastante. A elaboração puramente mental – a sucessão do movimento e as sensações provocadas por ela – reduz o mundo à elaboração subjetiva que dele se faça. O que chama de “ficção originária” limita-se à elaboração mental. O que vale dizer, a ficção não provoca uma forma discursiva diferenciada, pois se restringe a ser uma armação útil e provisória, comum a toda construção discursiva. Noutras palavras, o positivismo do autor deixa de considerar a ficção como ornamento, i.e., como integrada à retórica, para torná-la peça de uma engrenagem, a partir de certo momento dispensável. Mais concretamente, a ficção é submetida ao império do conceito, como um servo útil e cordato. Instrumento de uso do conhecimento, a hipótese de Vaihinger é um instrumento que favorece o domínio. Como então seria de estranhar que o autor não tivesse nada a dizer sobre a ficção poética? Se a ficção tem a propriedade de ser útil, a ficção poética ocupa um lugar à parte e nada privilegiado: é posta entre o dogma e os instrumentos de cálculos.
Nem por isso foi impossível que, no fim do século passado, Wolfgang Iser, ultrapassando o cientificismo de Vaihinger, tornasse de algum modo valiosa sua contribuição para pensar a ficção poética. Dizia ele:
Uma representação que carece de correspondência com a realidade, é a negação daquilo que caracteriza o dogma e a hipótese. (…) Portanto o ato vazio de representação torna-se apreensível como um suplemento que não existe por si e que, em consequência, pode-se articular a qualquer conteúdo possível, pois esse suplemento não é determinado por uma correspondência com a realidade (Iser, W.: 1991, 241-2)
Essa transformação era possível pela ênfase que o teórico de Konstanz fará na cláusula do “como se”. Recorrendo à passagem já aqui referida, pode-se mais redondamente dizer: à medida que se põe no meio entre o fim e o começo da história real de uma existência, a ficção, fundando-se em um “como se”, completa e transgride a história real. Por essas duas propriedades, a ficção é incomparável às formas discursivas que se prendem à análise da realidade. Melhor ainda, se as formas discursivas presas à realidade, que prendem decifrar têm como fundamento o conceito, a ficção, por excelência a que chamaremos de ficção interna, encontra seu instrumento de base na metáfora.
Esperando que os esclarecimentos dados acima seja suficientes, procuremos pensar na extensão que a ficcionalidade remete, em suas espécies e na consequência que passa a ter em uma teoria do conhecimento.
Extensão: considere-se que os séculos que consideraram prescindível precisar o que na Antiguidade o direito romano entendia por fictio são também aqueles que, conforme Heidegger, julgaram dispensável dedicar-se à concepção de Ser. Sua indagação seria descessária porque de antemão sabe-se que é o Ser. No caso de curiosidade, bastaria recorrer ao que dele já haviam dito Platão e Aristóteles). Em troca, na medida que se aprofunda a indagação do ficcional, constata-se que dele sequer se isenta a linguagem matemática. Como assim? Não estamos habituados a pensar a matemática como o recurso exato, por definição? Considere-se, contudo, o seguinte: que significaria que as próprias teorias matematicamente fundadas variam e são modificadas senão que elas contêm uma parcela mutável, i.e., não convertíveis no que a filosofia clássica entendia como a essência de algo? Se há portanto alguma afirmação universal é que a mais matemática das formulações contém algo que não se confunde com a verdade em si, i.e., que também a matemática é uma linguagem e não a extração de uma propriedade do objeto a que se refere. Para ser mais preciso, recorro à reflexão derivada de O Ser e o tempo (1927). A partir dele, podemos dizer que os enunciados remetem aos estados de ser e de existir. Por estados de ser entendemos aqueles em que prepondera a apreensão de propriedades do objeto indagado, ao passo que propriedades existentivas são aquelas em que preponderam traços temporais do objeto indagado, entendendo-se que a temporalidade se cumpre pela interrelação de características do objeto com o do sujeito da indagação. Se aceitarmos a diferenciação, será aceitável dizer que as ciências, por excelência as ciências naturais, são aquelas em que a apreensão do estado de ser supera a fusão do objeto com o sujeito.
Passemos às espécies de ficção. O fato de a ficção ter uma incidência geral não significa que elas não contenham diferenciações dentro de si. Temos de imediato de distinguir entre o que tenho chamado de ficção interna e ficção externa.
Por ficção interna chamamos o que se costuma designar por literatura. O termo comum não é apropiado porque muito do que é literário não se confunde com o discurso ficcional. Tenham-se como exemplo os casos de Freud, a que nos logo nos referiremos com mais vagar. No sentido amplo do termo, literatura abrange aqueles textos que, tendo uma função diversa de constituir um meio entre os limites do que se mostra como começo e fim, no plano da realidade, se caracterizam pela exploração exemplar da linguagem. Os exemplos são vários e, com alguma frequência aparecem no discurso das ciências sociais. No sentido restrito, a literatura se realiza na ficção interna, aquela que, nos termos já lembrados de Iser, as incertezas da vida são ocupadas imaginativamente. Fundadas no eixo metafórico, sua excelência dependerá da capacidade autoral no uso das imagens. Ainda com base em Iser, costumamos dizer que as ficções internas se estabelecem com base em um tripé. Elas da concepção de realidade vigente em um certo espaço e tempo, ou seja, de um horizonte do que se concebe como mundo. A este primeiro nível acrescenta-se um segundo, o nível do fictício ou verossímil. Ele é imprescindível, embora seu papel seja secundário, porque sem ele o receptor ficaria sem amarras para entrar no terceiro e decisivo nível, o da exploração plena da imaginação. É plenamente de sua articulação que se concretiza o “como se”, cumprido por cada obra em particular. (Acrescente-se de passagem: sua análise e teoria não se processam dentro do mesmo processo discursivo porque as operações críticas que hão de cumprir precisarão de um lastro conceitual).
Venhamos à ficção externa. Saindo da estrita filiação ao desenvolvimento de Iser, a temos explicitada pela função dominante que nela desempenha o ficíticio. Por que assim sucede? Recordemos que, na ficção interna, o fictício implica o prolongamento de um aspecto da realidade para que, sobre ele, se desenvolva a imaginação criadora. Na ficção externa, ao invés, o fictício estrangula o imaginário porque seu propósito não é transgredir a ausência de meio do real mas sim prolongar o que se toma como real para emprestar ao texto o caráter de retrato da realidade. Assim ele se propõe para que o texto, aparecendo como sinonímia de realidade, sirva ao propósito de um agente. Hoje em dia, a ficção externa, por excelência, aparece na rede mediática.
A distinção seria suficiente se não deixasse excluído o que aparece noutras modalidades discursivas, sobretudo, como já se disse, nas ciências sociais e no ensaio. À terceira espécie corresponde o que caracterizamos acima como dominância do aspecto de ser sobre o aspecto existentivo. Tomo como exemplares os casos freudianos. Nem sempre eles cabem no que chamamos de literatura no sentido amplo. Mas a recordação do caso analisado na Psicopatologia da vida cotidiana deve ser exaltado porque traz em si os dois traços: é uma modalidade de ficção, com caracterização literária, sem por isso deixar prejudicado seu cunho científico. Consideremo-lo com algum cuidado.
Em uma viagem de trem, Freud narra a história de um paciente, sucedida em região próxima a onde se encontravam. No meio do relato, procura lembrar-se do nome de um certo pintor e, em seu lugar, sempre aparece o nome de outro. Este é o enigma que a indagação de Freud procura decifrar.
Os dados preliminares capitais para a interpretação proposta para o esquecimento do verdadeiro nome do pintor consistiam em (a) Freud lembrar-se da informação que lhe transmitira um médico amigo, que vivera muitos anos na Bósnia-Herzegóvina: os turcos aí residentes a tal ponto estimavam a potência sexual que identificavam seu enfraquecimento com a proximidade da morte; (b) um pouco antes da viagem indicada, Freud fora informado de um paciente seu que se matara em razão de um distúrbio sexual. Em ambos os casos, portanto, era concretizada a ligação entre “morte e sexualidade” (Tod und Sexualität) (cf. Freud, S.: 1901, 8).
É a partir destes dados, e só a genialiadade do intérprete foi capaz de conjugar, que derivará o entendimento freudiano para a estranha substituição de Signorelli por Boticelli e Boltraffio. Quanto aos termos substitutos, assinala desde logo a duplicação da sílaba inicial. Em segundo lugar, como a continuação do segundo termo, reitera e o nome do lugar em que recebera a notícia da morte de seu paciente, Trafoi. A reiteração do “Bo” não é menos motivada pelo nome da região da Bósnia, de onde viera a informação engendradora do par “morte e sexualidade”. Em suma, o esquecimento nada tivera de arbitrário e ocasional. Muito menos, a articulação dos nomes que poderíamos chamar de tampões. Tampões de quê senão do recalque em aceitar a estreita ligação entre morte e sexualidade? Recalque que não teria tamanha incidência caso fosse verdadeira apenas como crença de uma certa população, de uma certa região ou tendo ocorrido com o infeliz paciente.
Seria absolutamente injustificado que alguém que se dedicava a penetrar nas artimanhas que cada humano prepara para si mesmo não percebesse que seu próprio esquecimento dele reclamava ser esclarecido. Embora o próprio Freud não chamasse a atenção sobre esse detalhe, a situação provocadora de todo o enigma não se dava, como poderia parecer, em um sonho. Ao contrário, era à luz do cotidiano desperto que o recalque mostrava sua força. Como que, ele terçava armas com o consciente no próprio terreno em que a percepção e a memória teriam as condições mais favoráveis.
Passemos bem rapidamente às consequências do que vem de ser dito para uma teoria do conhecimento. A base tradicional desta tem sido o caráter absoluto da verdade. A verdade não se afirmaria tão só no sentido perceptual senão que seria uma propriedade metafísica, transcendentalmente inerente ao ser humano. A verificação, ao invés, de que a ficcionalidade está presente mesmo no enunciado matemático abala a crença arraigada na tradição do pensamento ocidental.
Referências bibliográficas
Freud, S.: Zur Psychopatologie des Alttagsleben (1901), in Gesammelte Werke, vol. IV, Frankfurt am Main, S. Fischer Verlag, 1969
Fuhrmann, M.: “Die Fiktion im römischen Recht”, in Funktionen des Fiktiven, Poetik und Hermeneutik X, Munique, Wilhelm Fink Verlag, 1983, pp. 413-5
Iser, W.: O Fictício e o imaginário. Perspectivas de uma antropologia literária, trad. de Johannes Kretschmer, de Das Fiktive und das Iginäre. Perspwektiven literarischen Anthropologie (1991), Rio de Janeiro, Eduerj, 1996
Quintiliano: Institutio oratória, ed. Bilíngue: latim-francês, texto revisto e traduzido, com introdução e notas de Henri Bornecque, vol. I, Paris, Garnier, 1933