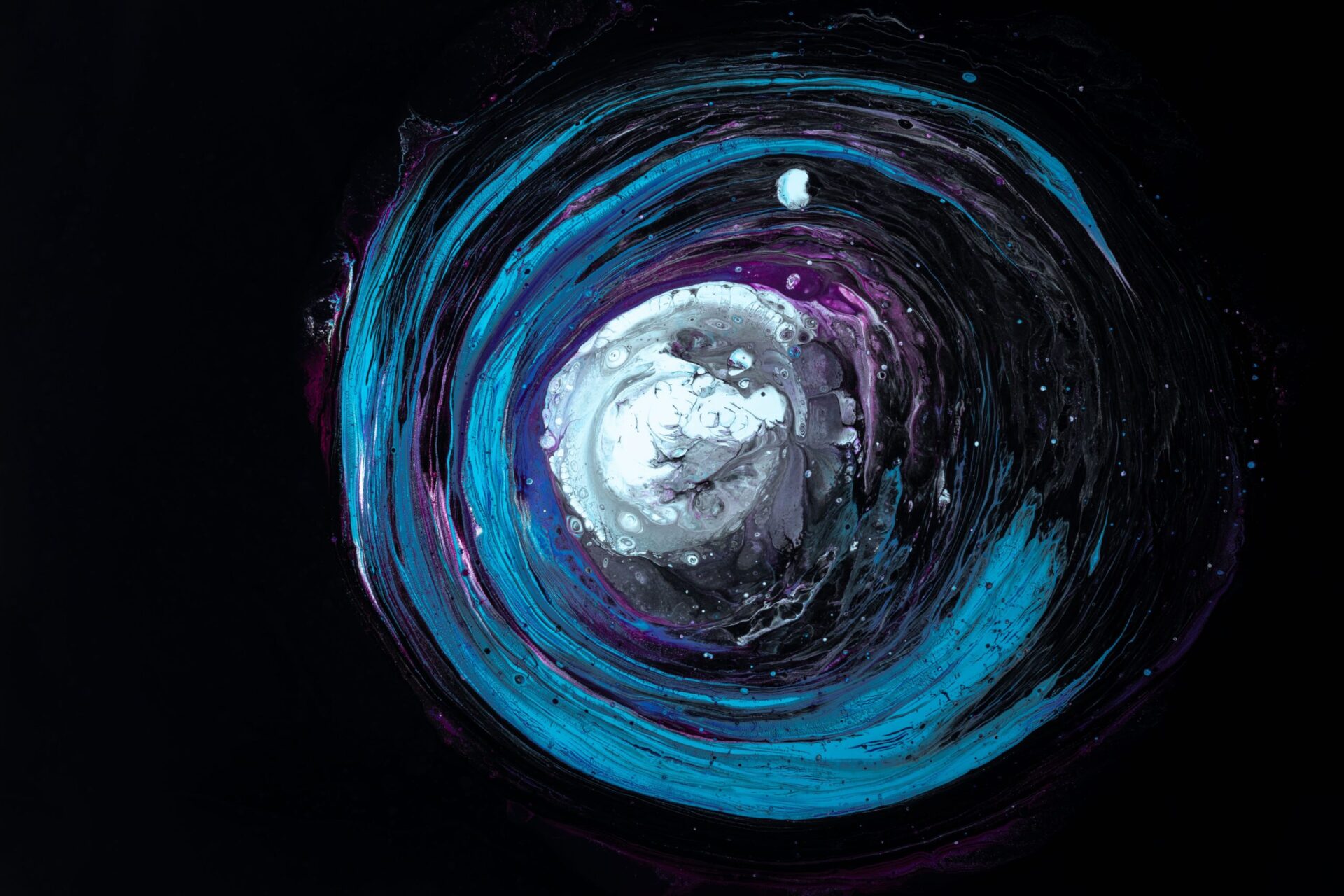Realismo filosófico, metacosmologia (tímido início de conversa)
Em homenagem aos 80 anos de Mario Novello
Louis Althusser (1918-1990), filósofo marxista-estruturalista argelino-francês, que ganhou notoriedade na tentativa de aplicação do formalismo estruturalista ao materialismo dialético de Marx, segundo ele insuficientemente desenvolvido, escreveu um pequeno livro intitulado Philosophie et philosophie spontanée des savants. Estava, como filósofo marxista, interessado em desentranhar o verdadeiro Marx do “jovem Marx”, ainda sob a influência do idealismo hegeliano, em luta com o que diagnosticava como a tendência naturalmente idealista de toda a Filosofia. E “idealismo” era naturalmente ruim para um marxista. Um contrassenso. Olhar o mundo a partir de estruturas universais/absolutas. Refletir num padrão de alta generalidade. Tudo incompatível com quem tem por missão transformar o mundo. A crítica que Marx fez ao pensamento do hegeliano Ludwig Feuerbach (1804-1872) – as Teses sobre Feuerbach – traz, na 11ª tese, a formulação: “Os filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes; a questão, porém, é transformá-lo.” Interpretar seria uma atitude idealista, contida nas altas abstrações da filosofia; transformar era, ao contrário, a tarefa do pensamento quando este investe na realidade. Esse é o sentido da famosa afirmação de Marx sobre a dialética de Hegel: ela era formalmente muito boa, mas estava de cabeça para baixo (era idealista); ele, Marx, iria pô-la sobre os próprios pés. Essa endireitada de corpo da dialética – de fato, uma poderosa invenção hegeliana – gerou o materialismo dialético. Materialismo, todo o contrário do idealismo de, a rigor, toda a história da filosofia.
Althusser considerou que, dedicados em tempo integral ao materialismo histórico, a ciência da história marxista, Marx e Engels não tiveram tempo de desenvolver o materialismo dialético, a nova filosofia. Mas ela estava lá, toda. Em estado prático. Bastava trazê-la à prática da Filosofia. Prática, sim, pois Althusser definiu a filosofia como “luta de classes na teoria”. E o primeiro movimento dessa construção do materialismo dialético consistiria – consistiu – em defender o marxismo contra o próprio Marx. Até mais ou menos o lançamento do Manifesto Comunista (1848), Marx não teria sido marxista. Seus Manuscritos econômico-filosóficos, série de notas de 1844 que Marx não publicou, o provariam contundentemente. Neles, o fundador do socialismo científico ainda destinava a saída da alienação à conquista integral da natureza humana, por exemplo. “Natureza humana” é um desses conceitos idealistas que não dizem nada quando se pensa em capital e trabalho, exploração da mais valia, contradições materiais e revolução. Contra Marx, portanto; por Marx.
A questão de fundo, aí, era a do engodo que o idealismo representava para a luta de classes, que Marx definira como o motor da História. Os conceitos absolutos não têm história, não podem ter sem se tornarem relativos e perderem, justamente, sua natureza de conceitos. São anti-históricos. A luta de classes na teoria deve ser, então, a eliminação da filosofia idealista, no espírito da 11ª Tese. Foi a isso que Althusser se dedicou a vida toda.
No caminho, topou com a Ciência. Mais precisamente, como deveria ser, com a prática científica. Os cientistas produzem conceitos, é verdade. Esses conceitos devem ter a qualidade de descritores das leis da natureza. Têm, portanto, a marca da universalidade, seriam contaminados pelo idealismo filosófico. No entanto, o idealismo filosófico é reflexivo, é intencional. A prática filosófica dos cientistas é espontânea. E assim escapa ao idealismo.
Essa afirmação – a tese toda, na verdade – não é óbvia. É preciso, para compreendê-la, atentar para alguns aspectos decisivos. 1) Não se trata de a Ciência; não há Ciência sem cientistas. 2) Não se trata das teorias dos cientistas, mas das suas práticas concretas. 3) Essas práticas são diretamente anti-idealistas. Os cientistas não têm consciência disso, mas espontaneamente praticam uma filosofia materialista. Não são filósofos, não fazem luta de classes na teoria, mas, na sua prática de cientistas, acontece de estarem do lado certo. São, nesse sentido, aliados do materialismo dialético em fase de desentranhamento.
Essa proximidade entre Filosofia e Ciência não é uma invenção althusseriana. É uma das características do estruturalismo, que Althusser praticava. O estruturalismo, experiência filosófica das décadas de 60/70 do século passado, se desenvolveu muito perto das ciências, sobretudo as humanas, mas não só. O fundador da antropologia estruturalista, modelo para o estruturalismo inteiro, Claude Lévi-Strauss (1908-2009) propôs, a certa altura da sua obra, que o elemento invariante, estrutural, a ser buscado em cada caso em análise, seria cerebral. E a influência do estruturalismo (filosofia espontânea dos cientistas…?) sobre a determinação do código genético como estrutura da vida não deve ser desprezada. Althusser pisava, portanto, um território familiar, em que a única estranheza era encontrar de repente o pensamento revolucionário de Marx. O estruturalismo não combinava bem com a História. “Estrutura e História” foi o nome de um dos debates terminais da escola. Althusser estava ciente desse perigo. Evidenciou-o nos seus Elementos de autocrítica (1973), em que “se acusou” de ter cedido aos encantos formalistas de Spinoza, afinal de contas, um filósofo idealista. (Essa filiação é grandemente discutível. Spinoza pensou more geometrico, ao modo dos geômetras. Mas essa é uma discussão que merece melhor espaço. Para Althusser funcionou.) E rompeu com o estruturalismo. Fim da história.
Só a contei, na verdade, para criar o ambiente em que coubesse uma questão que deveria ser considerada radical nesse nosso tempo, e não é. A questão do realismo filosófico, do qual o materialismo é uma variante. Questão, me parece, estratégica nessa época de pós-verdade. Questão muito antiga, muito maltratada do século XIX para cá, mas, salvo engano, muito fundamental. E cuja compreensão, prática e representações de mundo dos cientistas podem nos dar boas pistas.
Questão muito antiga. No século IV a. C. Platão o tratou no seu diálogo Crátilo. A pergunta era: as palavras que nós usamos para dizer as coisas decorrem delas, são seus nomes, ou não passam de convenção estabelecida entre os falantes de uma língua para fins de comunicação? Havia bons argumentos para ambas as hipóteses. E a discussão ficou inconclusiva. No século III d. C. Porfírio (234 – 309), no seu Isagoge, enunciou o problema da existência real dos gêneros e espécies, analisando o livro Categorias de Aristóteles. Boécio (480 – 524), comentou o Isagoge, e considera-se ter moldado o debate medieval, quando finalmente a questão explodiu, no século XI, com Roscelino de Compiègne (1050 – 1120), que considerou as palavras, os universais de linguagem, meras emissões vocais (flatus vocis), e seu opositor Guilherme de Champeaux (1070 – 1121), primeiro formulador claro da doutrina realista, que conferiu aos universais – gêneros, espécies, termos – uma existência ontológica, real, aderida às coisas. Data de então a designação de nominales e reales para identificar os partidários de um e outro, e a polêmica de fato se iniciou: a querela dos universais, que atravessou a Idade Média e teve em Tomás de Aquino (1225 – 1274), campeão do realismo, e em Guilherme de Ockham (1285 – 1347), principal figura do nominalismo, seus maiores representantes. A questão, nessa altura, era: os universais têm existência real ou são apenas figuras lógicas? Existem realmente na coisa (in re) ou apenas nominalmente na linguagem (post-rem)? O certo é que existem antes de tudo (ante rem), pois estão desde toda a eternidade na mente de Deus. Foram daí transferidas às coisas no ato da criação, ou Deus os reteve e os homens os ‘recriaram’ na lógica, e só aí têm existência – puramente nominal, terminista, portanto? A resposta tomasiana, apesar de fortemente ancorada na lógica aristotélica, tem uma dominância teológica: se Deus tudo criou segundo si mesmo, pois não dispunha, nem requeria, outro modelo, transferiu, por semelhança, os universais às coisas. Ockham não defendeu a lógica, mas a intuição, como fonte do conhecimento. Conhecer exige ficar próximo das coisas sensíveis, demonstrá-las com argumentos simples (a célebre navalha de Ockham). O trabalho da lógica é posterior, e lida com os termos das proposições, não com as qualidades intrínsecas das coisas.
Que possível importância tem essa história para nós hoje? Tem que o nominalismo acabou triunfando na ciência moderna, sobretudo a partir dos séculos XVIII e XIX. Por dois motivos principais: a linguagem matemática que, como modelo supremo, mesmo quando não presente em fórmulas e contas, estrutura a própria cientificidade, e o caráter observacional da ciência moderna, próxima do sensível ocamista. E nós herdamos ambas as condições. Agora uma árvore já não cai mais sozinha no meio da floresta porque não se pode ter certeza de que o fenômeno ocorreu se não tiver sido observado. Ora, no ambiente de ‘pós-verdade’ em que hoje vivemos, seria muito valioso que as árvores fossem autônomas em relação à nossa observação. Ficaria mais fácil distinguir um fato objetivo de uma opinião. A definição que o Dicionário de Oxford deu, em 2016, de pós-verdade é justamente a de que essa diferença se tornou indiscernível. Os fatos objetivos valem tanto quanto qualquer opinião. Dito de outro modo: os fatos objetivos são um tipo específico de opinião. Não seria assim se sua objetividade não decorresse obrigatoriamente da observação (que está sendo reduzida, pós-modernamente, a, apenas, uma perspectiva sobre a realidade).
Os chamados pós-modernos, nas últimas duas décadas do século XX, não chegaram a dizer que uma realidade realista não existe. Existe, claro, mas não tem mais importância. É como se o velho e bom Real tivesse saído da cena do mundo, e só suas simulações e simulacros tivessem agora interesse, numa ordem virtual (realidade virtual), produzindo, por verossimilhança, uma espécie de hiper-realidade, mera circulação de signos, imagens, circuitos, algoritmos replicáveis, com os quais não se produz verdade, mas simplesmente eficácias. É a eficácia o paradigma pós-moderno por excelência. A eficácia e o consumo. As coisas reais, os fatos objetivos, evidentemente existem. Mas perderam credibilidade. Mais precisamente: os discursos que os sustentaram no século XIX – Ciência, Filosofia – passaram a ser vistos como meras narrativas, como qualquer outra. É claro que ninguém negava a existência e importância de um neurônio, por exemplo. Mas, em matéria de célula, a célula tronco era mais interessante (não se trata mais de verdade; interessante é o que pode produzir mais para consumo), porque pode dar um neurônio, mas pode também, sob demanda, produzir tecido epitelial (se houve um grande incêndio e há grandes queimados), ou células hepáticas (se alguém está morrendo de cirrose). Já não importa o que uma coisa é, importa o que ela pode ser. Dos antigos pares complementares de possível/real e potência/ato de Aristóteles, o possível e o potencial vieram a ser privilegiados, e o real, o efetivamente presente, o realizado do possível, dançou. Dessa combinação (foi um colapso, um desabamento, cuja descrição não cabe aqui) de possibilidade e potencialidade foi que se forjou o novo real pós-moderno: o virtual, a realidade virtual, as simulações de rede, as revoluções informacionais a partir da internet 2.0 até as sofisticadíssimas simulações nossas, contemporâneas.
Na produção pós-moderna ainda houve alguma especulação, problematização. Pouca, é verdade, porque especular e problematizar pertencem ao mundo antigo em que real e verdade se relacionam, mundo a ser superado e abandonado. (Ah, sim, porque a História, a potência do passado também acabou…). Quando se decretou a pós-verdade, em 2016, a reflexão acabou. Estamos pós a verdade. Não se trata mais dela. E o real, os fatos objetivos, vão-se embora no mesmo movimento desdenhoso. Estamos agora no reino da opinião. Das narrativas. (Palavra que, com o sentido que atualmente tem, devia ser banida dos dicionários.) Capturados inteiramente pelos jogos de poder. É como se os velhos sofistas do século V a. C. – que, em falta de verdade, sustentavam seus discursos (“discursos arrasadores”, dizia Protágoras) na pura opinião e sua eficácia de convencimento – estivessem de volta para se vingarem dos filósofos, que, naquele antigamente, os venceram usando a verdade contra a opinião. Sofistas pós-modernos… A história não se move assim, mas a ideia é tentadora… E, a História, afinal, acabou…
Eficácia, claro, é coisa boa. Simulações podem ser imprescindíveis. Por simulações bem-sucedidas botaram-se os homens na lua. E ‘descobriu-se’ o bóson de Higgs na simulação tecnológica dos primeiros momentos do universo. (Houve quem temesse o ‘efeito singularidade’ que comeria a Terra. O real, mesmo tão desprestigiado, ainda espreita no imaginário). O problema não é a eficácia – é a eficácia como paradigma, que exclui a essencialidade do real. Nem são problema as simulações: no seu radical – simul, o semelhante – ainda respira uma memória de uma realidade real mesmo, não virtual. Nem os simulacros, a produção tecnológica de análogos da realidade objetiva, são um grande problema. Problema é a eficácia – as simulações e simulacros, com sua recém-adquirida capacidade de instaurar mundo (virtual), de rede, de cálculo, de algoritmos – excluir, como se fosse óbvio, uma realidade ‘externa’ aos cálculos, uma verdade superior a eles.
Dito de maneira bruta: nós, que respeitamos 26 séculos de Filosofia, Ciência e técnica, que não temos o orgulho leviano de nos livrar dessa história com um desdenhoso dar de ombros, estamos em guerra. A conjuntura da pós-verdade é política. Sua definição tem como horizonte a tomada de decisões no que resta de espaço público. É aí, portanto, que a guerra deve se passar. Tivemos um ensaio geral no “seguir a Ciência” x “negacionismo científico” no contexto da Pandemia. Alguns fundamentos foram lançados ali. Para o que particularmente me interessa, uma discreta revalorização do iluminismo setecentista, sem a arrogância da razão: um iluminismo ‘de resultados’. Uma guerra que não decorre de nenhum amor religioso, metafísico, é verdade, mas deriva da convicção de que sem alguma referência ao verdadeiro nossa cultura perde o chão, e qualquer barbárie ganha condições de invadir a civilização que por alguns milhares de anos andamos construindo. Civilização x barbárie tem gosto de Bem x Mal? Corremos o risco de entrar em território de maniqueísmo, de que lutamos tanto para nos livrar? Corramos o risco. O realismo ontológico (da ordem, portanto, do ser) filosófico-científico, necessário à guerra, traz o perigo de um retorno da metafísica que supúnhamos (mas estávamos errados) ter deixado na saída da Idade média? Atravessemos o perigo. O que está em jogo é muito mais grave do que esses riscos e perigos. Está em causa o futuro. Será ele aquele que a tecnologia determinar, o das utilidades e eficácias, das exclusões (meia humanidade não consome e não tem acesso aos mecanismos tecnológicos que põem em rede e simultaneidade espaço-temporal a outra metade)? Futuros distópicos, pós-catastróficos? Ou teremos ainda a possibilidade de querer um futuro, nós, a humanidade, diferente da exponencialização do presente das eficácias e consumos planetariamente implantados? Digo não às distopias, e saúdo o desejo utópico de amanhãs diferentes. Mas, para isso, é necessário que a realidade tenha sentido próprio, seja capaz de, com alguma ajuda, resistir à imposição das simulações e simulacros de real. Que a verdade, ainda que não absoluta e inquestionável (nem convém) valha o que a verdade deve valer: dar sentido (significado e direção), indicar as balizas de novos caminhos. Entendo, e proponho, que a estratégia mais pesada para alguma esperança de sucesso nessa guerra é a reativação do realismo. Um afastamento, por pequeno que seja no início, do nominalismo das poderosas tecnologias que reduzem o mundo a uma gramática de zeros e uns e à ditadura dos algoritmos. Uma estratégia temerária, por certo. Porque o realismo ficou lá atrás, associado à metafísica aristotélica, à sua retomada tomista no século XIII, de certo modo, à religião. É verdade, por outro lado, que um dos modos de realismo é o materialismo, tão antigo quanto Leucipo (primeira metade do século V a. C.) e seu discípulo Demócrito (460 a. C. – 370 a. C.), criadores do atomismo, Epicuro (341 a. C. – 271 a. C.), materialista full time, Lucrécio (99 a. C. – 55 a. C.), seu mais notável discípulo, e tão moderno quanto Karl Marx (1818- 1883), criador do materialismo dialético, uma filosofia anti-metafísica e anti-religiosa por excelência. Também a ciência contemporânea, a mais de vanguarda, a Cosmologia, não permitirá essas derivas passadistas.
Conto uma história. Já não me lembro há quanto tempo, mas são décadas, a revista VEJA estampou na capa, como verdade absoluta, a origem do universo no Big Bang. Mário Novello, que na época, a meu pedido, tentava ensinar Cosmologia sem matemática a mim e aos meus colegas do IDEA (Programa de Estudos Avançados da Escola de Comunicação da UFRJ), no mesmo dia me ligou pedindo a organização de um seminário com jornalistas e outros comunicadores. Seu terror era o de que, agora, endossado pela VEJA, o Big Bang se tornasse a forma pura da verdade cósmica. E não era. A hipótese padrão do Big Bang está errada. Não porque, como muitos epistemólogos supõem e afirmam com certeza, não conseguiria dar conta de muitos fenômenos cosmológicos, sendo, portanto, insuficiente. Estava ontologicamente errada. Não dava conta da realidade das origens do universo. Era falsa.
O que retiro, para meu uso, dessa história é que a Ciência, representada por um dos seus maiores representantes contemporâneos, acredita na realidade. Que haja uma (essa é a parte mais fácil) e que ela se defina de certo modo e não de outro. Que, feitos os cálculos, os experimentos, extrapolados esses experimentos (de laboratório) para a totalidade da matéria existente, é possível determinar, até melhores evidências, que o universo é de um modo, não é de outro. Que há uma verdade inerente ao universo, que habita a sua realidade e lhe dá sentido. Isso é um realismo. É mesmo, considerando o de que aqui se trata (nada menos do que tudo), a forma mais radical de realismo que consigo imaginar. Vou usá-la nessa guerra pela consistência da verdade. (Seja o que for, hoje, verdade. Isso é o que ainda não sabemos.)
Essa estratégia é de certa forma um resgate, ou um recuo. Há uns 40 anos, sendo o mundo e os sistemas de pensamento em circulação nas Humanidades muito diferentes, tomei uma decisão metodológica que implicou na adoção do que na época chamei formalismo histórico-filosófico. O risco que havia então para a Filosofia, a História e as Ciências Sociais e Humanas era, na minha avaliação, o do reducionismo. Fixar uma referência e depois ligar a ela, por redução, todos os fenômenos observáveis, pensáveis e narráveis. Por exemplo (era o mais frequente): tudo é política. Se fosse assim, qual seria a diferença essencial entre, digamos, a religião e a culinária, já que, depois de exploradas todas as diferenças entre elas, o núcleo que restaria, sua verdade última, era a da sua natureza política. Aliás, mais gravemente ainda, talvez: se tudo é política, o que é propriamente a política?
Talvez pareça um pouco exagerada a descrição da conjuntura teórico-epistemológica que traço aqui. Mas era assim, e a questão era tratada com grande seriedade. Marxistas, estruturalistas, pós-estruturalistas, o que havia de melhor e mais avançado na época ia nessa direção. Eu achava um perigo. Porque para pensar radicalmente é essencial que as diferenças estejam bem demarcadas. Mesmo que seja para, no fim de tudo, encontrar uma lei que em última instância dê alguma unidade à diversidade e impeça a sua dispersão caótica. Só isso. A proposta de um formalismo metodológico teve então o objetivo de evitar um mal maior. Uma descrição formalista de qualquer fenômeno alcança apenas a espinha dorsal. Ficam de fora os músculos, os órgãos, o sangue. Essa seria sem dúvida uma grande perda. Mas o principal risco, que explicitei então e assumi, é que o formalismo é uma forma de nominalismo… Conscientemente, eu estava enterrando as possibilidades de um realismo ‘virtuoso’. Não havia, na época, condições para ele.
Acabei no ano passado o nono e último volume da minha história dos paradigmas (olha o formalismo aí…) filosóficos, série de estudos sob o título geral de Os assassinos do sol. E pronto. Desembarco do formalismo, do nominalismo, de uma espécie de ceticismo dogmático (que contradição…!) que lhes está associado (mantenho o ceticismo clássico, sem o qual o pensamento corre para o dogma). Desembarco porque a época da pós-verdade exige um amor à realidade de corpo inteiro. A espinha dorsal de modo nenhum nos basta. Depois de 40 anos de nominalismo resignado, entro no campo armado de um realismo esperançoso.
Absolutamente não sei no que isso vai dar. Sei que é necessário. E me alegra poder oferecer, nesse texto comemorativo, o primeiro manifesto dessa nova direção ao meu amigo e mestre de Cosmologia sem matemática, Mário Novelo, como envergonhado presente de filósofo menor para os 80 anos de um cientista superlativo. Quem sabe não encontremos um caminho de diálogo entre esse realismo de combate, que vejo tão perto da Ciência, e a metacosmologia que está vindo por aí? Bonita esperança.