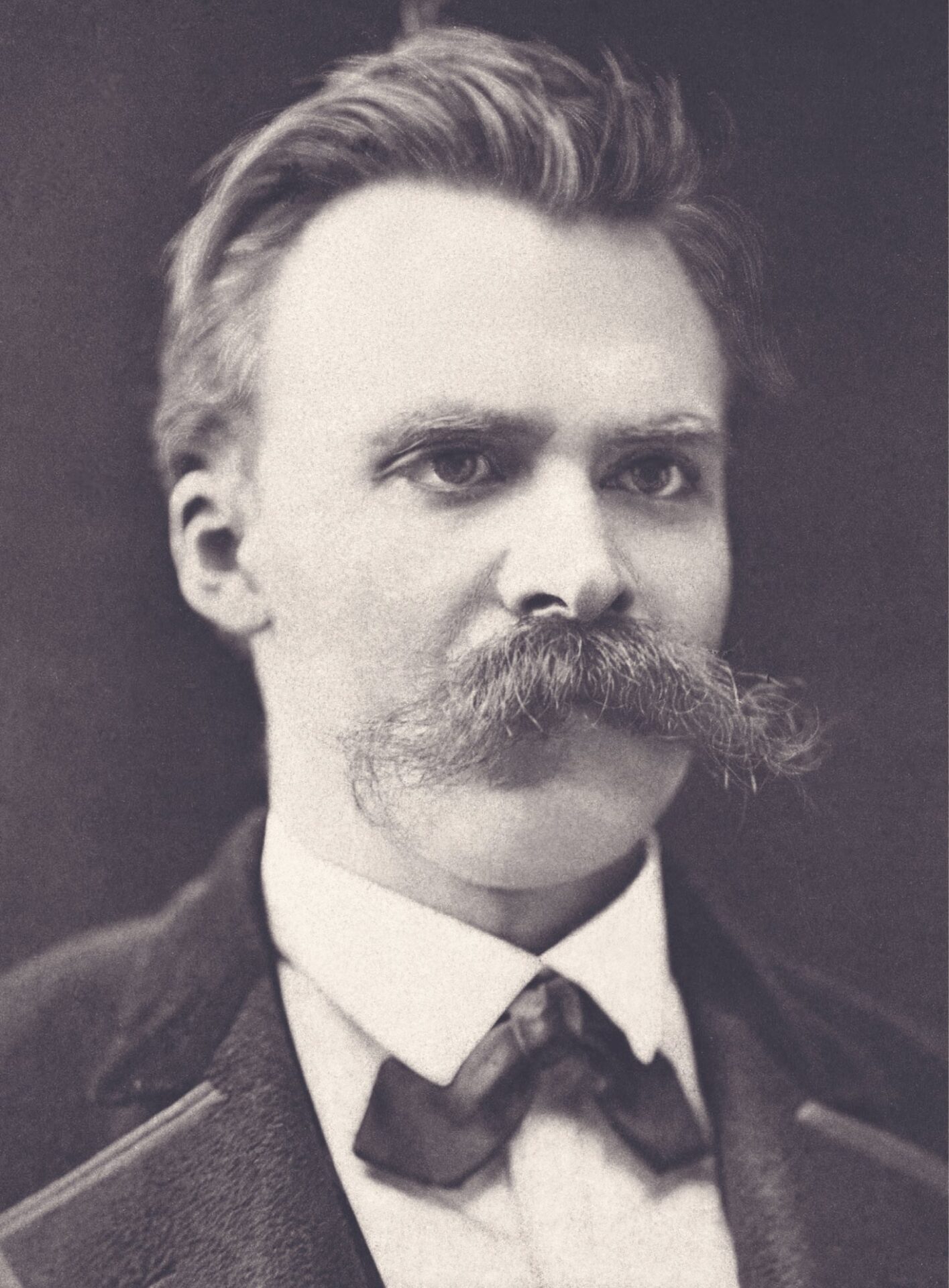6 Lições para a filosofia de Nietzsche – parte 6
Essa superpotencialização nunca se extingue. É um constante devir, mas não um devir como progresso, em direção a uma meta que se encontra fora de si. É um constante devir de novidade, um exercício de força, a própria essência íntima do ser (NIETZSCHE, 2008a, 693).
Diz Nietzsche: “o que o homem quer, o que cada mínimo pedaço de um organismo vivo quer é mais poder” (2008a, 702). Para o filósofo, há genuinamente nas coisas um querer, uma vontade de poder, o que significa, uma vontade de conquistar mais, expressar-se mais, afirmar-se mais. Nenhum ser quer ou contenta-se com aquilo que é, com aquilo que o tornou existente, mas antes, quer sempre ser mais, quer sempre expandir-se. Esse ser mais não é balizado pelos parâmetros sociais ou antropomórficos. Esse ‘ser mais’ é um ‘ser mais’ ontológico que faz com que cada coisa esteja sempre em um processo de devir. Todo ser é devir e esse devir tem o caráter da atividade do querer.
Nesse sentido, há em Nietzsche uma superação do darwinismo, uma vez que para ele a vida não tem apenas um ímpeto para a autoconservação, mas é, ela mesma, auto-afirmação. Isso significa dizer que a vontade de potência não é vontade para se manter, para conservar o original, para afirmar o que já se encontra dado, para se enrijecer e cristalizar em uma forma. Ao contrário, essa auto-afirmação é afirmação de um querer para o que ainda não é, de um desejo de se transformar em uma vida sempre mais rica, que expressa um impulso sempre mais alto, mais crescente, em busca de novos domínios.
Se todo ente tem por essência o querer ser mais, isso inclui ser também diverso, transformado, e é por isso que toda criação envolve, necessariamente, a destruição. Diz Heidegger: “a vontade é, em si, ao mesmo tempo criadora e destruidora” (2007a, p. 56). Ou seja, a vontade de potência não busca apenas superpotencialização do indivíduo enquanto forma, mas a superpotencialização do múltiplo que em sua imanência já não guarda nenhuma individualização, nenhuma forma. A vontade de potência tem sempre que ser compreendida como o caráter da vida e não das formas momentâneas que a vida exibe.
A vontade de poder não tem nada a ver com posições, formas ou referências.
A vontade de potência é para Nietzsche a essência do que existe. Mas não devemos entender aqui ‘essência’ no sentido de essentia, como o caráter estável do aspecto, da ideia. Significa antes, ‘essenciar’ no sentido verbal, significa a mobilidade do existente. Todo existente é vontade de potência (FINK, 1994, p. 99. Grifo do autor)
É também por isso que a superação a si mesmo não tem um sentido ascético, mas ao contrário, é a posse da plena imanência que não se detém em sua quietude e em seu movimento de tudo renovar e experimentar. Daí a interpretação da vontade de poder como arte: “o mundo como uma obra de arte que dá luz a si mesma” (2008a, 796).
10 A vontade de poder como vontade artística
Em Platão há uma condenação da arte como aquilo que afirma um não ente. Logo, a inversão do platonismo passa também pela inversão da relação entre arte e verdade. Para Platão a relação do pensamento com a arte é uma relação de discórdia, posto que de afastamento do ente. A arte é uma imitação (mímesis), uma cópia que traz, por isso mesmo, o risco da ilusão e da mentira. Logo, sua relação com a verdade não é genuína, não podendo assumir, frente às pretensões do conhecimento, uma posição elevada, restando-lhe sempre, enquanto mímesis, uma posição subordinada.
O artesão, para Platão, é aquele que fabrica algo em vista de uma ideia. Logo, ele não é capaz de fabricar a ideia mesma e esse é um limite que há em todo produzir, em todo fabricar: não se fabrica a ideia ao mesmo tempo que é necessária a ideia para inspirar o artista. Será hábil o produtor que se detiver na ideia que o inspira, sem lhe desviar o olhar. As ideias existem eternamente e inspiram os artesãos a produzirem seus objetos segundo suas essências – eles fazem do objeto, através de seu uso, uma afirmação da essência. Já o pintor faz com que o objeto se mostre na imagem, não podendo nem mesmo oferecer o uso do objeto, produzindo-o em um fantasma (PLATÃO, 2000, 598b).
Em razão da dominação moral do mundo a arte foi relegada ao reino da mentira, sendo negada e reprovada, ao mesmo tempo que a vida foi hostilizada, se tornando objeto de rancor e aversão. Os afetos passaram a ser malditos, a beleza e a sensualidade passaram a ser temidos – eis o que Nitezsche chama de vontade de delírio – o sinal da mais profunda doença, exaustão e empobrecimento da vida (1992b, p. 19-20). Para se colocar contra esse instinto de aniquilamento, contra esse princípio de decadência, contra essa difamação contra a vida, Nietzsche vai falar da vontade de arte, afirmando ser a arte a tarefa suprema da vida (1992b, p. 26).
A depreciação da arte em Platão se oporá à ideia nietzscheana de que a arte é mais valorosa que a verdade (NIETZSCHE, 2008a, 822; 853). Se em Platão a arte é depreciada porque afasta o homem da verdade, em Nietzsche a arte é apreciada porque permite a ele superar o ideal da verdade. Assim, a arte tem mais valor do que a verdade, pois enquanto esta última joga o homem em um mundo de ficção e tristeza, a arte leva o homem a despertar em toda parte novas avaliações, novos desejos, novas compreensões. A arte é, justamente, o que permite ao homem não sucumbir frente a nenhuma verdade (NIETZSCHE, 2008a, 822).
A atividade artística é a atividade de poder produzir, de fazer aparecer algo que ainda não é – logo, é a mais clara expressão da vontade de poder. Diz Nietzsche, “Toda arte produz um efeito tônico, aumenta a força, inflama o prazer…” (2008a, 809).
A vontade de poder é uma vontade artística – eis o que diz Heidegger:
a arte pensada em sentido maximamente amplo como o elemento criativo é o caráter fundamental do ente. De acordo com isso, a arte é, em sentido mais rigoroso, aquela atividade na qual o criar vem à tona para si mesmo e se torna o mais transparente possível. Não apenas uma configuração da vontade de poder entre outras, mas a configuração mais elevada. A partir da arte e como arte, a vontade de poder se torna propriamente visível (2007a, p. 67, grifo do autor).
Diz Nietzsche: “A arte e nada como a arte! Ela é a grande possibilitadora da vida, a grande sedutora para a vida, o grande estimulante da vida… a arte como única força contrária superior, em oposição a toda vontade de negação da vida… antiniilista par exellence” (NIETZSCHE, 2008a, 853.2). Viver, diz Nietzsche, “é continuamente afastar de si algo que quer morrer; viver é ser cruel e implacável com tudo o que em nós se torna fraco e velho” (2001, 26, p. 77).
Diz Heidegger: “A arte transfigura a vida, projeta-a para o interior de possibilidades mais elevadas, possibilidades qua ainda não foram vividas e que não pairam sobre a vida, mas que a despertam antes novamente a partir dela mesma” (2007a, p. 441). Ou seja, contra a figura do doutrinador moral, do cientista dogmático, para quem esse mundo nada vale se comparado a outro mais elevado e verdadeiro, é preciso o contra-movimento do filósofo artista. Somente a vontade artística é capaz de rivalizar com o ideal ascético (DELEUZE, s/d, p. 155). Em outras palavras, a arte como transfiguração é mais elevadora da vida do que a verdade como fixação de uma aparição (2007a, p. 192). Se a vida é sempre vontade de potência, elevação vital, não é possível querer ou viver com a verdade.
A arte é uma maneira de se deixar a própria imagem e mesmo as imagens que circundantes para, de algum modo, aproximar-se do infinito. O artista libera a vida para além dos limites restritos da razão ou da percepção, vendo e fazendo ver o que habitualmente não se percebe. Pela arte pode-se penetrar em uma vida desconhecida, ver nascer em si imagens de terras distantes, ideias e impressões antes insuspeitáveis. A arte permite uma migração metafísica de um mundo para outro do qual se estaria sempre privado se não fosse por essa saída metafísica. Eis a verdadeira conquista filosófica.
Os artistas não vêem as coisas como elas são, mas as vêem de modo mais pleno, mais forte do que é. “Para tanto, deve-lhes ser próprio uma espécie de juventude e primaveras eternas, uma espécie de embriaguez habitual na vida” (NIETZSCHE, 2008a, 800).
Nesse sentido, Nietzsche diz que a tarefa do filósofo é ser médico da civilização (1984, p. 27) porque traz a eliminação de tudo o que é superfluidade, resto e morte – tudo o que alimenta o apequenamento e a mediocridade. Deleuze diz que o filósofo frequentemente tem uma saúde muito frágil não por ser doente, mas porque viu na vida algo de grande demais para qualquer um, de grande demais para ele próprio que o põe a discreta marca da morte. Mas, completa ele, esse algo grande demais que é visto é também a fonte que o faz viver, o fôlego que o faz viver. “Um dia, saberemos que não havia arte, mas somente medicina” (1992, p. 224).
10.1 A Embriaguez
Diz Nietzsche que “há dois estados nos quais a arte, ela mesma, irrompe no homem como um poder da natureza, impondo-se, queira ele ou não: de um lado, como coação para a visão; de outro lado, como coação para o orgiástico. Ambos os estados também estão presentes na vida normal, apesar de mais atenuados, no sonho e na embriaguez” (2008a, 798).
Heidegger destaca a ideia nietzschiana da embriaguez como estado estético fundamental. Diz Nietzsche em O crepúsculo dos ídolos:
para que haja a arte, para que haja um fazer e uma visualização estética, é incontornável uma precondição fisiológica: a embriaguez… antes de tudo, a embriaguez da excitação sexual, a mais antiga e originária forma de embriaguez. Do mesmo modo, a embriaguez que nasce como consequência de todo grande empenho do desejo, de toda e qualquer afecção forte; a embriaguez da festa, do combate, dos atos de bravura, de todo e qualquer movimento extremo; a embriaguez da crueldade; a embriaguez na destruição; a embriaguez sob certas condições meteorológicas, por exemplo, a embriaguez primaveril; ou sob a influência de narcóticos; por fim, a embriaguez da vontade, a embriaguez de uma vontade cumulada e dilatada (1988, VIII, 122).
A embriaguez aqui de forma alguma designa a confusão, a beberronia, o deixar-se levar ou o movimento cambaleante. A embriaguez é sintoma da vontade de potência, porque o essencial da embriaguez ou na embriguez é “o sentimento de elevação de força e de plenitude” (NIETZSCHE, 1988, VIII, 123). Diz Heidegger: “essa elevação de força precisa ser compreendida como a capacidade de se lançar para além de si mesmo, como uma relação com o ente na qual o ente mesmo é experimentado como mais plenamente ente, mais rico, mais transparente, mais essencial” (2207a, p. 93).
Para compreender o que significa o estado de embriaguez, basta olhar para o estado do homem não-artístico: o homem sóbrio, cansado, extenuado, empobrecido, empalidecido; em uma palavra, o homem doente. Estes estados não artísticos são os estados “sob cujo olhar a vida sofre” (NIETZSCHE, 2008a, 812).
Heidegger chama ainda a atenção para o fato do estado de embriaguez não ser um estado fugidio, um afeto fugaz, como alguém que rapidamente se embriaga e se volatiza. A embriaguez não deve ser um momento, mas uma conquista, porque é no interior da embriaguez que o homem alça-se para além de si mesmo em meio à plenitude de sua capacidade essencial (HEIDEGGER, 2007a, p. 103). Assim, ao invés da embriaguez ser pensada como um estado em que se está confuso ou incapaz, é, ao contrário, um estado em que se ganha clareza, elevação de potência. Aqui tudo é enriquecido porque tudo ganha em plenitude – o que é visto, desejado, tudo ganha em força e dilatação (NIETZSCHE, 1988, p. 75).
O sentimento de embriaguez é um incremento de força, de elevação de força, que tem como consequência o embelezamento – a expressão de uma vontade triunfante (2008a, 800). Diz Fink: “A embriaguez é a maré cósmica, é um delírio de bacantes, que rompe, destroi, secciona todas as figuras e elimina todo o finito e particularizado; é o grande ímpeto vital” (1994, p. 29).
11 A tragédia
A arte desencadeia a vida em seu sentido mais originário, na mais rica contraditoriedade, na plenitude de suas múltiplas formas e, sobretudo, em meio à duração das coisas raras. Ela é a “autêntica atividade metafísica do homem” (1992a, p. 26) e, especialmente a poesia trágica terá para Nietzsche o valor de impor claridade aos olhos, tornando esta claridade elevação de si mesma. A tragédia caracteriza-se por um destemor no olhar, por um pendor para o descomunal, e corajosamente dá as costas para todas as doutrinas de fraqueza pregadas pelo otimismo dialético (NIETZSCHE, 1992b, p. 111).
Nietzsche se coloca, pois, contra a interpretação aristotélica segundo a qual a tragédia provocaria o temor e a compaixão, e em razão disso, propiciaria a elevação moral (1979, VI, 27, 1499b; IX, 56, 1452a). Aristóteles relacionou a tragédia com sobressalto e compaixão. Diz Nietzsche:
tivesse ele razão, então a tragédia seria uma arte perigosa para a vida: ter-se-ia que fazer recomendações em relação a ela como em relação a algo suspeito e prejudicial à sociedade. A arte, de costume o grande estimulante da vida, uma embriaguez na vida, uma vontade de vida, tornar-se-ia aqui a serviço de um movimento de descenso, prejudicial à saúde, uma servidora ao pessimismo (2008a, 851).
Ou seja, para Aristóteles, a tragédia tem um afeito catártico porque excita os afetos, excita a compaixão, o sofrimento. Em outras palavras, ela tem um componente pedagógico e moral. Mas Nietzsche reserva à tragédia um valor completamente outro: para ele, no fenômeno trágico está a verdadeira natureza da realidade. Isso significa dizer que a tragédia possui um componente ontológico, crucial na compreensão do que é a vida e saída das obtusidades comuns ao pensamento.
Em primeiro lugar, a cultura trágica é a que se opõe ao otimismo dialético – ela não se deixa iludir pelas seduções, conforto e pelos apelos da ciência. Em realidade, o socratismo da moral, da dialética, do homem teórico, acabou por matar a tragédia.
Os gregos tinham, originalmente, duas divindades como fonte de sua arte: Apolo e Dioniso, que registram claramente uma oposição de estilo. Apolo é o Deus da medida, da forma, da representação onírica e seu elemento é a beleza. A eterna juventude o acompanha, sendo o seu reino o da verdade mais elevada, o da perfeição dos estados verdadeiros. Ele é ao mesmo tempo deus da bela aparência e do conhecimento verdadeiro. Seu olhar é calmo e comedido, distante de toda a agitação do mundo.
Já Dionisio é o Deus caótico, da desmesura, do informe, do frenesi sexual, da música sedutora. A arte dionisíaca repousa no jogo com a embriaguez, com o arrebatamento. Sua figura simboliza os dois poderes que levam o homem ao esquecimento de si: a embriaguez narcótica e a pulsão da primavera – nesta última, a força geradora da natureza se faz sentir abundantemente, isto é, onde se revela o poder artístico da natureza (2005). O florescer da primavera impregna toda a natureza de alegria. É uma vida candente, entusiasta, que se faz brotar; algo ainda jamais experimentado empenha-se em exteriorizar-se.
Nas festas de Dioniso o homem se reconcilia com a natureza, desaprende a andar e falar e torna-se membro de uma comunidade mais elevada ao tornar-se outro. Na celebração dionisíaca o subjetivo se esvanece em completo autoesquecimento (1992b, p. 30); ela traz uma realidade inebriante que não leva em conta o indivíduo, mas que procura, inclusive, destrui-lo.
O estado dionisíaco aniquila as barreiras e os limites habituais da existência e por isso, a natureza se desvela, apresentando seu segredo com uma terrível clareza (NIETZSCHE, 2005, p. 19). A vontade dionisíaca tem como meta a criação de uma possibilidade mais elevada de vida.
O mundo apolíneo pretendeu colocar a exuberância da vida em grilhões, uma vez que segundo seu entendimento, a helenidade deveria ser curada e expiada, o que inspirou a dialética socrática, o intelectualismo e a vontade de verdade que passou a dominar o pensamento grego. Apolo foi um deus da cura que pretendeu salvar os gregos da própria vida, desprezando tudo o que lhe é genuíno, qual seja, a vontade de potência.
Nietzsche diz que com o triunfo da visão apolínea a ilusão, a alucinação está em seu apogeu – é a vida feliz no desprezo da vida ou o que pode se chamar o triunfo da negação da vontade. Com Sócrates chega-se ao final da época trágica e inicia-se a época do homem da razão e da verdade.
Diz Fink:
inicia-se assim, segundo a concepção de Nietzsche, uma terrível perda do mundo; a existência perde, por assim dizer, sua abertura para a face obscura e noturna da vida, perde o conhecimento mítico da unidade de vida e morte, perde a tensão entre individuação e fundo vital primordialmente uno; se torna superficial, fica presa nos fenômenos, se faz ‘ilustrada’ (1994, p. 34).
O mundo dionisíaco do êxtase, da plenitude, dos instintos mais poderosos (NIETZSCHE, 2005, p. 26) perderá espaço na história do pensamento, mas será revivado por Nietzsche como possibilidade para ele a chave de compreensão do mundo, como acesso genuíno à vida, uma vez que somente a visão dionisíaca é capaz de ver a fluidez da vida, a vida como construção e desconstrução permanente. Ou seja, nos gregos da época trágica Nietzsche reconhece sua maneira de compreender o mundo e será para ele o movimento oposto aos movimentos da religião, da moral e da metafísica clássica. A arte trágica será também ‘redentora’, mas redentora de modo muito diferente da redenção que a religião oferece.
Em segundo lugar, o medo e piedade só podem se fazer presente no espectador obtuso, como diz DELEUZE (s/d, p. 29), aquele para quem a vida tem propósito moral e ordenamento lógico. A tragédia mostra que a vida é completamente amoral e desprovida de escrúpulo; ela exerce sua soberania tanto no construir como no destruir, tanto no bem quanto no mal, tanto no triunfo quanto na queda. Diz Fink: “a arte trágica experimenta e afirma como gozo o inquietante e o problemático, o perigoso e o mal, o abismo do sofrimento” (1994, p. 201).
No mundo trágico não existe redenção e nem é possível ser salvo. Veja Édipo Rei, por exemplo. Ele, que era o mais excelente dos mortais, acaba por se tornar o pior dos homens. De uma hora para outra o heroi cai do cume da fama para o abismo do desprezo. Ele mata o pai e casa com a mãe sem saber que eram seus pais, levando a existência humana ao absurdo. A tragédia não é agradável, não é consoladora; ela expressa uma dimensão de não compreensão e de assombro, tal como é a vida. Na visão trágica do mundo vida e morte, ascensão e decadência encontram-se entrelaçados. Ao estar na vida, no fluxo contínuo do todo, está-se à mercê dos acontecimentos.
Diz Nietzsche: “a coragem e a liberdade do sentimento perante um inimigo poderoso, na presença de uma adversidade sublime, diante de um problema que suscita o horror – esse estado vitorioso é o que o artista trágico escolhe e glorifica” (1988, p. 86. Grifo do autor).
De forma alguma se trata de um pessimismo, mas de um sentimento jubiloso inclusive frente ao terrível, frente à morte, frente à ruína. Como diz Nietzsche, trata-se do sim triunfal à vida para além da morte e da mudança , mesmo frente aos mais estranhos e duros problemas (1988, p. 118-119). Dioniso é a vontade de viver que se alegra, que sempre se alegra.
Por que a existência desaparece assim como aparece sem provocar nenhuma dor? Porque todas as figuras finitas são ondas momentâneas da grande maré da vida, de modo que a aniquilação do indivíduo é sua volta ao fundo da vida (FINK, 1994, p. 21). A desaparição do ser é a volta a esse fundo infinito que continuamente faz surgir de si novas figuras.
O pathos trágico se alimenta do “tudo é um” heraclítico. Heráclito é o pensador trágico, pois para ele a vida é inocente e justa. Ele faz do devir uma afirmação (ele não é uma aparência ou uma ilusão) e não há um ser para além do devir. O uno é múltiplo e não há nada negativo no devir – eis a lógica da afirmação múltipla, a ética da alegria, o sonho antidialético de Nietzsche (FINK, 1994, p. 22).
Diz Nietzsche sobre o filósofo pré-socrático: Heráclito,
em cuja vizinhança sinto-me mais cálido e bem-disposto do que em qualquer outro lugar. A afirmação do fluir e do destruir, o decisivo em uma filosofia dionisíaca, o dizer sim à oposição e à guerra, o vir a ser, com radical rejeição até mesmo da noção de ‘ser‘ – nisto devo reconhecer, em toda circusntância, o que me é mais aparente do entre o que até agora foi pensado. A doutrina do ‘eterno retorno‘, ou seja, do ciclo absoluto e infinitamente repetido de todas as coisas – essa doutrina de Zaratustra poderia afinal ter sido ensinada por Heráclito (1995b, p. 64, grifo do autor).
A tragédia é a arte mais sublime de afirmação da vida e, diz Nietzsche, ela renascerá quando a humanidade, sem sofrimento, tiver a consciência de ter sustentado as guerras mais rudes e necessárias (2017, p. 70).
O filosofo trágico, aos olhos de Nietzsche, trabalha para a edificação de uma nova vida, distante dos valores antropomórficos, da ambição do conhecimento, do apoio derradeiro em ilusões e crenças. Só na aliança com a arte essa tarefa pode ser cumprida. Invertendo a máxima platônica, diríamos só quando os filósofos se tornarem artistas, é possível chegar à libertação progressiva do que é demasiado antropomórfico. Em outras palavras, realizando a vontade estética o homem transfigura o mundo.
Nesta aliança com a arte não existe a promessa de bem-estar, de serenidade ou suavidade. Toda a ilusão antropomórfica é reduzida a nada. Deve-se estar pronto para uma excitação, uma inquietude, para um movimento avassalador que vai levando tudo, fazendo o sujeito experimentar uma agitação apaixonada, um arrebatamento e uma alegria.
A noção do trágico, ensina Untersteiner, é uma categoria metafísica – a vida humana em suas antinomias constituem para cada indivíduo mistérios e desafios perenes. Por isso os sofistas, como herdeiros da tragédia, trazem o conceito do dissoi logoi: o dissídio, a contradição. Pressupõe-se que a vida, a experiência, possa ser tomada por uma estabilidade paralisante, mas a vida humana é agitada por uma tempestade que abala as suas bases – os problemas surgem impetuosos. Há um alternar-se e desdobrar-se das coisas, o que leva ao homem a uma contínua incerteza, e o homem médio não tem possibilidade de tomar consciência desse irrequieto fluir (2012, p. 51).
A saga heróica mostra que a diké não é unívoca, posto que o próprio sagrado é potência ativa tanto para o bem quanto para o mal: há uma pluralidade de diké que se choca em luta recíproca (Homero mostra como Zeus pode mandar dois prodígios contrários, quando Heitor é protegido pelo favor divino e quando é arrastado pela catástrofe). Ou seja, a tragédia já mostra o fluir da realidade que ameaça anular a unidade da consciência humana e toda possibilidade de dominar virtuosamente as coisas (idem p. 52-53).
Os gregos distinguem o engano (apate) e a falsidade (pseudos). O primeiro é a ação criativa do intelecto, ação intencional, uma atividade do espírito que se realiza por meio da persuasão e transporta quem está sujeito a ele a um mundo de perpétua ilusão, onde a realidade não se distingue da irrealidade, enquanto que a falsidade traz o aspecto objetivo do falso (idem, p. 173-175).
O engano é mistério irracional, alegra de viver e jogo de fantasia. Ele implica a irrealidade das coisas – na história do pensamento a exigência moral vai se contrapor ao engano e o mito se desfaz: vence a razão dialética. Em uma filosofia do futuro, vence a atitude do pensamento que descobre o conflito insanável da realidade.
A arte é enganosa não porque seja uma mentira, porque seja a expressão do falso. Ela é puro jogo de fantasia, inventividade, alegria de viver, graça. A consciência pode reivindicar um mundo ordenado, mas o contraste entre este mundo ideal e a realidade efetiva constitui um dos aspectos mais característicos do que se chama trágico (idem, p. 259). Ele se dá quando o mundo moralmente ordenado no qual acreditamos viver vê o caos irromper de modo assustador e perturbador. Aí a confiança metafísica em um sentido do mundo, na bondade e racionalidade do divino vacila e todas as garantias de um pensamento objetivo, real, adequado, correto perdem sua razão de ser – o homem tropeça em um universo que não pode governar. O homem experencia a infinita dor de nunca encontrar diante de si um caminho único, ainda que para viver seja necessário impor-se um caminho.
12 O eterno retorno
A vida é excesso e esse excesso retorna eternamente, infinitamente. Eis a teoria do Eterno retorno tal como Nietzsche compreende: o sim triunfante da vida no seu eterno excesso. O que retorna? O que eternamente retorna? O excesso de potência, de vitalidade, de riqueza.
A doutrina do eterno retorno estabelece que nunca se pode colocar a vida em repouso. Nietzsche quer garantir à vida o seu direito maximamente intrínseco ao devir, projetando para ela possibilidades novas e elevadas e a conduzindo criativamente para além de si mesma (HEIDEGGER, 2007a, p. 300-301).
Criar é destruir o que foi enrijecido e cristalizado. Dizer que a filosofia de Nietzsche é uma filosofia da criação é dizer que sua compreensão da vida não se compõe com a fixidez, com o estável, com o permanente – sua lei fundamental é que sempre há e sempre haverá uma nova possibilidade. Heidegger, nesse sentido, a nomeia doutrina do devir constante (2007a, p. 315).
Entretanto, é preciso tomar cuidado com o cansaço que se apresenta, com a invencível desilusão com tudo o que resta para o entusiasmo humano. É preciso ter cuidado com a arte ambígua, com a filosofia ambígua, porque em realidade elas afastam o espírito do rigor, levando-o para uma espécie de desejo vago. O compromisso com a compreensão da vida como vontade de potência deve afastar o homem de todo perigo, de todo veneno e de toda doença. Com Nietzsche funda-se a filosofia da vida, conforme diz Scheler (apud FINK, 1994, p. 11): ele dá à palavra vida uma ressonância áurea que será retomada por muitos outros autores que por ele se inspiraram.
13 Crepúsculo dos ídolos
O desprezo pelo conceito de niilismo, verdade e toda forma de dogmatismo leva Nietzsche não à eleição de uma nova idolatria, mas a falar do crepúsculo dos ídolos, ou seja, à ideia de que todos os ídolos (incluindo ele mesmo), possuem pés de barro (2017, prefácio, 2). O livro de Nietzsche que leva esse nome é diz ele, uma grande declaração de guerra (1988, p. 12).
Aqui a palavra ídolo envolve não só pensadores ou personagens, mas também ideias. Em consequência, Nietzsche diz para arrancar as folhas de sua própria coroa, como a desidolatrar também o seu pensamento e suas ideias. Diz ele: “recomenda-se mal um mestre se ficamos sempre apenas discípulos… Cuidado: não vos deixeis esmagar por uma estátua” (2017, prefácio, 4).
Nesse mesmo sentido, em O viajante e sua sombra, Nietzsche diz que “não nos deixaríamos queimar por nossas opiniões, tampouco estamos seguros delas. Mas talvez pelo direito de ter nossas opiniões e poder mudá-las” (2007, 333). Isso faz parte do que ele chama de retidão do pensamento (2004, 370), isto é, de uma campanha para destruir o seu próprio pensamento e é por isso que ele afirma que em certa medida o pensador deve amar o seu inimigo. Como diz Andreas-Salomé, esse processo de autotransformação é condição indispensável da força criativa (1992, p. 42). A filosofia da criação deve, para ser realizada, não ter gosto por nenhuma idolatria, mesmo a idolotria Nietzschiana. Ele afirma: “temos de nos tornar traidores, praticar a infidelidade, sempre abandonar nossos ideais” (2000, I, 629). Para que a criação se afirme, para que ela possa ser sempre mais elevada, a vida deve superar a si mesmo, assim como as ideias não podem cristalizar-se e o pensador não deve ter muito apego a elas.
Não é por outra razão senão por essa é que Nietzsche diz serem os céticos os representantes decentes da história da filosofia (1996b, 12), os únicos honrados entre a gente filosófica (2017, p. 42). Diz ele:
As grandes mentes são céticas… a força, a independêcia vinda da força e do vigor superior do espírito se demonstram através do ceticismo… convicções são prisões. Não enxergam suficientemente longe, não enxergam por baixo deles… deve-se enxergar cinco convicções por baixo de si, atrás de si… (1996b, 54).
“O que na capa se chama ídolo é simplesmente aquilo que até agora se chamava verdade. Crepúsculo dos ídolos quer dizer, em linguagem pobre: a verdade antiga se aproxima do seu fim…” (2017, p. 106).
Também em Assim falou Zaratustra, Nietzsche fala da condição de ídolo, dizendo que se retribui mal um mestre se se permanece sempre seu discípulo e que é preciso que o discípulo fique atento para não ser esmagado por uma estátua – toda crença sempre tem pouca valia (1998, I, p. 105-106).
14 Conclusão
O filósofo artista é antes de tudo um homem vertiginoso, um homem que aceita o desafio de pensar, mas sabe que o pensamento é um risco exatamente porque pressupõe um afastamento de uma própria condição humana, de sua própria humanidade com todos os seus hábitos, organizações e certezas. Daí o super-homem de Nietzsche, o homem do porvir. Entretanto, esse abandono não é uma desolação ou uma experiência curiosa, mas a possibilidade do homem compreender a própria vida. Somente a inspiração artista pode libertar o sujeito das aparências, do erro, das ficções, não encaminhando-o para o modelo ideal, para a forma correta de pensar, mas para a desconstrução da própria ideia de modelo, de correção, de verdade.
Nietzsche é, pois, um pensador artista. Diz ele na Vontade de potência: “a arte nos foi dada para nos impedir de morrer da verdade” (I, II, 453). Ele propõe uma estética da criação, onde a aparência não significa a negação do real, mas sim sua afirmação.
A arte é um estimulante da vontade de potência, isto é, uma forma de afirmação da vida, de descobrir e inventar novas possibilidades de vida. O artista é aquele que não se deixa aprisionar por nenhuma imagem ou nenhuma verdade. Magritte[1] que pintou um cachimbo e escreveu em baixo: `isso não é um cachimbo`, o que mostra a ridicularização do caráter atributivo do pensamento que pretende dizer o que é, enunciar o ser ou a verdade das coisas.
A filosofia de Nietzsche ao invés de se encaminhar para uma grande síntese, se encaminha para a criação e a liberdade. A aliança com a arte é fundamental para a compreensão do pensamento vitalista porque com ela é possível sair da pretensão da verdade e do ser e alcançar o triunfo da potência do devir, o triunfo da vontade de potência.
Referências
ANDREAS-SALOMÉ, Lou. Nietzsche em suas obras. São Paulo: Brasiliense, 1992.
ARISTÓTELES. Metafísica. São Paulo: Loyola, 2002.
______. Poética. In: ______. Os pensadores. São Paulo: Editora Abril, 1979.
DELEUZE, Gilles. A ilha deserta e outros textos. Textos e entrevistas (1953-1974). São Paulo: Editora Iluminuras, 2006.
______. Nietzsche. Lisboa: Edições 70, 1990.
______. Nietzsche e a filosofia. Porto: rés, s/d.
______. O que é a filosofia?. Rio de Janeiro: 34, 1992.
______. L’Abécédaire de Gilles Deleuze. In: <www.youtube.com/channel/UCrJ6D6O3xldTVjJVagmrxOg>. Acesso em: 18 out.2019.
______. A lógica do sentido. São Paulo: Perspectiva, 1974.
FINK, Eugen. La filosofia de Nietzsche. Madrid: Alianza editoria, 1994.
HEIDEGGER, Martin. Nietzsche. Volume I. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007.
_______. Nietzsche. Volume II. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007.
NIETZSCHE, Friedrich. A filosofia na idade trágica dos gregos. Rio de Janeiro: Editora Elfos, 1995.
______. A gaia ciência. São Paulo: Cia das Letras, 2001.
______. A visão dionisíaca do mundo. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
______. A vontade de poder. Rio de Janeiro: Contraponto, 2008.
______. Além do bem e do mal: prelúdio a uma filosofia do futuro. 2. ed. São Paulo: Cia das Letras, 1992.
______. Assim falou Zaratustra. Rio de Janeiro: Editora Civilização brasileira, 1998.
______. Aurora. São Paulo: Cia das Letras, 2004.
______. Cinco prefácios para cinco livros não escritos. Rio de Janeiro: Editora Sete letras, 1996.
______. Crepúsculo dos ídolos. Lisboa: Edições 70, 1988.
______. Ecce homo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2017.
______. Ecce homo. São Paulo: editora Companhia das letras, 1995.
______. Genealogia da moral. São Paulo: editora Companhia das letras, 1998.
______. Humano, demasiadamente humano: Um livro para espíritos livres. São Paulo: editora Companhia das letras, 2000.
______. Introdução teorética sobre a verdade e a mentira no sentido extra-
moral In O livro do filósofo. Porto: Rés, 1984.
______. O Anticristo: Maldição do cristianismo. Rio de Janeiro: Clássicos econômicos Newton, 1996.
______. O livro do filósofo. Porto: Rés, 1984.
______. O nascimento da tragédia. 2 ed. São Paulo: editora Companhia das letras, 1992.
______. Sobre verdade e mentira no sentido extramoral. São Paulo: Hedra, 2008.
______. O viajante e sua sombra. São Paulo: Escala, 2007.
ULPIANO, Claudio. A grande aventura do pensamento. Rio de Janeiro: Funemac Livros, 2013.
______. Nietzsche e o espírito de vingança. Aula de 08/08/1989. Disponível em: <http://claudioulpiano.org.br.s87743.gridserver.com/?p=2626>. Acesso em: 06 set. 2015.
______. A forma do falso. Aula de 24/08/1995. Disponível em: <http://www.claudioulpiano.org.br>. Acesso em: 08 out. 2010.
UNTERSTEINER, Mario. A obra dos sofistas. São Paulo: Paulus, 2012.
[1] Em carta a Michel Foucault em 22 de maio de 1966, Magritte afirma que “o visível tangível esconde sistematicamente um outro visível” in Foucault, Michel. Isto não é um cachimbo, p. 82.